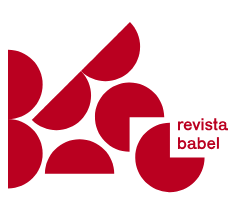“A gente fala que se a situação melhora na Venezuela a gente retorna ao nosso país. Cada dia a gente tem saudade de nosso país, da nossa gente, de tudo, mas agora não dá para voltar, vai ter que passar alguns anos para a gente voltar novamente” é o que diz Araguaney, venezuelana de 31 anos entrevistada para um relatório da Agência da ONU para Refugiados, o ACNUR, em relação à potencialidade desses imigrantes de empreenderem no Brasil.
Esse estudo, que entrevistou diversos venezuelanos em Boa Vista e São Paulo, constatou as diversas dificuldades, perspectivas e potencialidades para que venezuelanos desenvolvam negócios e formas de sustento uma vez no Brasil. Esse texto, no entanto, não é especificamente sobre isso. O relatório constatou que 42.9% dos venezuelanos que empreendem atuam no setor de bebidas e alimentos em São Paulo, enquanto 41.7% estão em Boa Vista. Muitos possuem escolaridade, e entre 20 a 40 anos de idade. Os dados dizem que 60% dos que estão na área de comida produzem comida típica, o que chamam de “mercado étnico”.
Segundo os dados do ACNUR, mais de 5 milhões de venezuelanos já saíram do país. Somente no Brasil, atualmente há 264 mil em situação de refúgio e migração. De um total de 50 mil pessoas devidamente reconhecidas como refugiadas no país, cerca de 90% (46 mil) vieram da Venezuela.
Mais do que tratar sobre a questão do refúgio venezuelano no Brasil ou sobre “empreendimentos”, esse texto é sobre outra coisa: comida. Para quem é imigrante, a relação com a comida e uma nova cultura gera reações diversas dependendo do ambiente em que se está. Me lembro até hoje quando assisti um jogo de tênis no Ginásio do Ibirapuera, e quase pude jurar que senti cheiro dos tequeños (palitos de queijo empanados e fritos) venezuelanos que comia quando ia a um jogo de baseball com meus pais em Caracas. Essa sensação aconteceu já algumas vezes: não estou lá, mas algum cheiro me leva a uma memória na Venezuela, a um lugar específico. Por isso, quero entender: como é para quem trabalha com isso num país que não é o nosso?
É o caso de Yilmary Perdomo, há cinco anos no Brasil e dona de um quiosque de comida venezuelana em São Caetano. Pela pandemia, ainda não voltou ao quiosque físico, mas a experiência com o público foi fundamental não só para ter clientes fixos num momento mais complexo, mas também para viver de perto essa relação entre a imigração, o outro e a comida. Yil, como é conhecida, é formada em Terapia Ocupacional, mas não conseguiu validar o diploma ao chegar ao Brasil e, então, ela e o marido se dedicaram à gastronomia: “Isso sempre esteve conectado a mim de alguma forma. Como Terapeuta Ocupacional sempre falo que a gente tem um olhar de entender como a comida influencia na saúde das crianças, por exemplo, porque eu trabalhava com educação especial focada em autismo.”
Então, conta que a gastronomia veio de forma coincidente, mas natural: “A gente passa por um processo de perda de identidade um pouco, nessa busca de emprego e de não encontrar, e aí chegou a oportunidade de pensar o que eu tinha em mãos, e o que eu tinha era a gastronomia venezuelana. Porque eu gostava, eu conhecia e sabia fazer. E quando fui no primeiro encontro com o público, percebi que os brasileiros não conheciam nossa cultura, nossa gastronomia”.
Segundo o mesmo relatório do ACNUR, um dos obstáculos encontrados para os refugiados na hora de empreender foi o desconhecimento do brasileiro sobre a Venezuela, onde “afirmaram que passam muito tempo explicando sobre a comida venezuelana”, descrevendo inclusive um incômodo ao serem questionados sobre as dificuldades do país ou sobre os familiares que estão lá. Rosalva, de 35 anos, uma das entrevistadas, disse que ela e o marido chegam a dizer que são argentinos para evitar questionamentos, além de terem a impressão que alguns “…nem sabem onde fica a Venezuela”.
O encontro com o outro
Yilmary viu, na comida, além de uma fonte de renda necessária, uma oportunidade: falar com os demais sobre a nossa gastronomia e, segundo ela, “mudar a imagem que as pessoas têm da Venezuela”. Ela conta que já conhecia venezuelanos com negócios culinários, mas não de forma ampla em São Paulo, por exemplo: “Era algo restrito e muito focado de venezuelanos para venezuelanos”. Hoje, sua clientela mais fiel é formada por brasileiros, e não por outros imigrantes. Atualmente, foca em trazer todo o contexto dos seus pratos: “Já há três anos tenho um foco em mostrar pros clientes por quê aquele prato, por quê aquele ingrediente, o que tem a ver com nossas raízes e nossa cultura”.
É o mesmo que acontece com Elibel Lanas, venezuelana e chilena radicada no Uruguai que, primeiro, trabalhou focada com clientes venezuelanos mas, hoje, está aberta a outro tipo de empreendimento. Elibel também viu na gastronomia venezuelana uma oportunidade de expandir: “Na época eu estava desempregada e fiz cachitos (semelhante ao croissant, mas com outro tipo de massa e recheado de queijo ou presunto, muito tradicional da Venezuela), e minha mãe sugeriu que eu vendesse. Na época havia menos venezuelanos, então havia muita falta do que era nossa comida, nossa padaria.”
O negócio eventualmente cresceu no número de encomendas, e Elibel expandiu para as hallacas, em dezembro. A hallaca é talvez um dos pratos mais singulares da gastronomia venezuelana, o favorito de Yilmary, inclusive: “É um dos pratos que mais distingue a nossa gastronomia. Feito com massa de milho, três carnes, quando falava com os brasileiros todos sempre estranhavam”. A hallaca é um bolinho de milho recheado, mistura de carnes com vários temperos, levando inclusive azeitona e uva passa – tudo isso enrolado numa folha de bananeiro. Há anos que não como, mas se comesse, sinto que seria como aquele dia do jogo de tênis: direto para um dezembro em Caracas. É o prato mais famoso, tradicional e difundido do Natal venezuelano.
Não é para menos: Elibel conta que, primeiro, fez 200 hallacas. Três anos depois, vendeu 4 mil exatamente na mesma época. Não é de se estranhar que quando em outro país, as pessoas procurem aquela sensação única de casa, de normalidade, de identidade. O que pessoas como Yilmary e Elibel fazem, então, é quase como procurar uma identidade comum. “Já tive pessoas que choraram na minha frente depois de comer um prato meu”, diz Yilmary sobre a experiência de vender a venezuelanos e brasileiros. Hoje, ela diz que faz um trabalho de ensino em relação às possibilidades para a gastronomia. “Muita gente falava: nossa, mas leva isso? E essa tal de arepa é recheada com abacate e frango? (Se referindo à arepa que a gente chama de “Reina Pepiada”). Fica bom? E eventualmente as pessoas foram se abrindo.”
Elibel relata algo parecido: “Eu acho que tem a ver muito com os caribenhos especificamente”. A Venezuela recebe muita influência, também, da comida caribenha e da quantidade imensa de combinações de sabores. “Por mais que sejamos latino-americanos, muitas vezes outros não estão acostumados a misturar certos ingredientes e sabores. Eu tô acostumada a comer chuleta defumada com abacaxi numa boa, por exemplo.” Então, para ela, a experiência de trabalhar com comida também tem a ver com isso: “Para algo a gente está aqui também, né? Para misturar sabores locais com os nossos e cozinhar a aqueles que vivem nos países onde vamos”.
No Chile ou no Brasil, ambas falaram muito sobre essa quebra de mitos em relação à comida e principalmente à mistura de sabores, que talvez, segundo elas, seja muito óbvia para nós venezuelanos, mas pouco para quem não nos conhece: “Eu sentia que às vezes os brasileiros eram muito fechados com a forma de comer, com os ingredientes. Experimentam coisas novas, mas sentia que era algo pontual”, conta Yilmary, que hoje tem como uma das suas principais bandeiras fazer um trabalho não só de alimentação, mas também cultural: “quero abrir novas portas, promover igualdade e união, mostrar que podemos sempre construir algo em conjunto, através da alimentação”.
Se Yilmary enfrentou dificuldades com os clientes brasileiros, Elo, como também é conhecida, diz que no Uruguai a coisa caminha por outro lado: “Aqui eles são super abertos e ainda há muita coisa para se explorar, eu vejo um mercado que a qualquer momento vai explodir, então isso é uma grande oportunidade também”. No fim, ambas falam sobre algo primordial na relação com alimentação: chegar em outras pessoas. Para além dos venezuelanos, que podem ser muitos dada a expansão que a imigração teve, o que parece importar mais para elas é dar a conhecer para quem já está lá. A comida pode ser venezuelana ou não, mas quem cozinha é: esse é o ponto principal nas histórias.
O prato principal
Yilmary fala da cachapa (uma panqueca de milho recheada com queijo branco típico da Venezuela e manteiga) como uma das suas principais ofertas: “Não só me lembra e dá a conhecer meu país, mas é um prato que as pessoas não conhecem aqui. Por isso defini como meu prato chefe”. Diz que aprendeu a cozinhar ela desde pequena e lembra muito a família e a Venezuela como um todo. Ela adiciona: “É o que eu tenho, né? Minha cultura.” Como dito no início, mais do que propor uma reflexão sobre a questão migratória do ponto de vista acadêmico, analítico, esse texto fala sobre comida e identidade. Elibel, enquanto falava comigo, lembrou também de um outro amigo, que hoje tem um restaurante de arepas (talvez o prato mais famoso da venezuela, uma espécie de bolo/panqueca de milho recheada que é servida em todas as refeições) fora do país: “Eu penso: em que momento que a gente passou de jogar truco na escola para fazer comida em outros países? Como isso aconteceu?”.
Para pessoas como Elo, que não pararam na comida venezuelana, a relação com a gastronomia não acaba: “A cozinha para mim é a estabilidade. É muito forte, a partir dali penso não só no que mais posso produzir para os demais, mas também é minha manutenção.” Ainda assim, relata uma experiência similar à de Yilmary nas combinações: “É também sobre como você apresenta isso aos outros. Muitas vezes as pessoas me perguntam: – Nossa mas isso mistura mesmo? – E eu digo: sim, pode confiar.”
Enquanto conversávamos, Elo me leu o cardápio do seu novo café prestes a abrir em Montevidéu. Uma cafeteria positiva, como ela chama, em que traz pratos simples, mas muito bem elaborados e, principalmente, com as combinações corretas. “E sinto que para o caribenho é mais simples trabalhar nisso porque estamos acostumados a uma grande mistura de sabores e texturas. Morei no Chile, na Argentina e agora no Uruguai, e é totalmente diferente. Sabendo mais, cada vez mais você mistura os sabores com o que as pessoas gostam localmente. Aqui eles não comem abacate, por exemplo, e no Chile é a coisa mais comum, então criei uma opção de lanche que é ‘a estrangeira’.”
No fim, ao levar a identidade consigo enquanto imigrantes, o ponto final de ambas que é chegar nas pessoas, parece mais simples: “Se eu não tivesse tido toda essa variedade de sabores no meu prato enquanto criança, acho que não conseguiria fazer da mesma forma. Mas tendo essa cultura, sinto que sou mais aberta e consigo chegar mais às pessoas com os pratos”.
Por Daniel Medina / danielmedina@usp.br