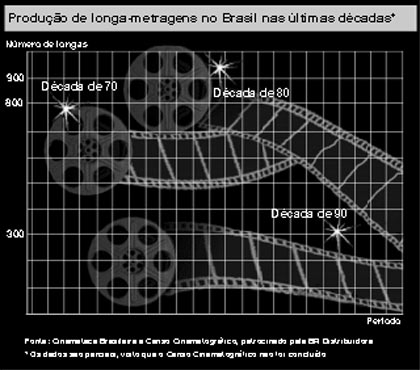|
| |
| NESTA EDIÇÃO |
| |

|
De
todos os momentos de crise que entrecortaram a história da
cultura brasileira e, em especial, a história do cinema,
um deles foi um tanto quanto estarrecedor. Começou com a
ascensão de Fernando Collor de Mello à presidência
da República, em 1990, e se estendeu até setembro
de 1992. Valendo-se
de diversas medidas provisórias, Collor autorizou que fossem
extintas leis de incentivos culturais e órgãos culturais
da União, dentre eles a Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme),
o Conselho Nacional de Cinema (Concine) e a Fundação
do Cinema Brasileiro (FCB). Com isso, por dois anos o Brasil teve
a sua produção cinematográfica praticamente
estagnada. A retomada
dessa produção ocorreu por volta de 1995, quando começaram
a operar efetivamente dois mecanismos de incentivo à cultura:
a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual. Daí a denominação
“cinema da retomada”, criada por alguns estudiosos em
referência ao cinema produzido nos oito anos de governo de
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Nesse período, foram
produzidos cerca de 200 longas e 750 curtas – 70 somente em
2002, um número bastante significativo, mas que é
quase quatro vezes menor se comparado ao total de películas
lançadas na década de 70 (794 longas) e na década
de 80 (946 longas). Neste ano, a produtora Filme B contabilizou,
até maio, sete novos filmes em cartaz, 27 filmes já
rodados, além de 48 em fase de montagem e nove em preparação
de filmagem. Não
surpreende que essa expressão – “cinema da retomada”
– cause polêmicas, pois ela sugere que o governo passado
tenha alavancado o cinema nacional dando-lhe os subsídios
necessários, o que, de fato, é bastante discutível.
Para o crítico, historiador e professor da Escola de Comunicações
de Artes (ECA) da USP Jean-Claude Bernardet, é justo falar
em “cinema da retomada” apenas pelo viés quantitativo,
já que a política adotada pelo governo na época
não remete a nenhuma “valoração qualitativa”.
Já
para o crítico José Carlos Avellar, ex-diretor da
Embrafilme e ex-presidente da Riofilme, “a organização
política no Brasil não despertou ainda para a importância
da atividade cultural como um todo”. Ele concorda que tenha
havido uma retomada da produção, fruto de uma cultura
cinematográfica que já está enraizada no País.
No entanto, alerta para o fato de que “o governo não
conseguiu ainda estabelecer um plano geral que discipline a atividade”.
Avellar afirma que, em meio a um mercado desorganizado, os filmes
não têm como esgotar seu público, apesar de
terem conseguido “resultados excelentes”. “A
chamada retomada carece um pouco de revisão crítica
do termo. O que ocorreu em 1995 foi a dinamização
de um mecanismo de captação que é baseado na
renúncia fiscal. Esse mecanismo foi adotado como política
e não houve sequer um planejamento estratégico do
setor”, questiona o atual chefe de gabinete da Secretaria
do Audiovisual do Ministério da Cultura, Leopoldo Nunes,
cineasta formado pela ECA. Ele acredita que o que ocorreu foi a
criação de “uma elite cultural com o dinheiro
público”, enquanto “a grande maioria dos produtores
culturais foi excluída”. “Um país onde
Nelson Pereira dos Santos não produz há mais de dez
anos tem alguma coisa errada.” Embrafilme
e Concine – Ainda que sofra inúmeras críticas,
a Embrafilme, como empresa produtora e distribuidora, cumpriu seu
papel e chegou a ser responsável por 32% do mercado. Ao longo
de 15 anos, ela investiu cerca de US$ 10 milhões por ano
e criou mecanismos para estimular a produção e sustentar
a distribuição. “A Embrafilme foi fundamental
porque era uma empresa de fomento, distribuição e
tinha o seu braço regulador, o Concine. Foi o momento de
maior afirmação do cinema brasileiro”, afirma
Nunes. Mas,
ainda que a produção tenha sido a principal preocupação
dos governos até então, Bernardet alerta para o problema
que o País enfrenta em relação às distribuidoras
de filmes. “Enquanto se visar exclusivamente à produção,
não haverá embasamento industrial. Acredito que a
alteração da estrutura de distribuição
e exibição dos filmes brasileiros mudará a
produção. A mudança estrutural na produção
virá em decorrência de uma alteração
do mercado, não apenas em termos quantitativos, mas em relação
à temática e estilo.” Para
o professor, o “cinema da retomada” voltou-se exclusivamente
para uma elite intelectual por causa da estrutura da distribuição
dos filmes brasileiros, que acabam circulando apenas nesses circuitos.
Leopoldo Nunes concorda com ele: “Hoje o exibidor é
completamente refém do distribuidor estrangeiro”, ressalta.
“O distribuidor preza o que é mais lucrativo para ele,
é a lei do cão. É preciso criar mecanismos
legais para fazer valer a necessidade da expressão cinematográfica
brasileira. Se isso não for feito, continuaremos marginais
no nosso próprio mercado.” Para
tanto, Nunes alega que serão fixadas cotas de tela maiores
no próximo ano e, no que se refere à exibição,
será ampliado o número de salas no País –
hoje em torno de 1.400. Serão estipulados preços de
ingressos acessíveis, para que haja uma popularização
do cinema. Ele ressalta que as empresas que atualmente exploram
o mercado de salas são financiadas com capital subsidiado
pela indústria norte-americana e “nenhum exibidor brasileiro
pode competir com esse dinheiro”. Nunes anuncia a nova medida
a ser tomada pela Petrobras, um dos grandes fomentadores culturais
do País: a partir do próximo mês ela dirigirá
seus investimentos para o País todo e não apenas para
projetos do eixo Rio-São Paulo. Há
outro aspecto em que Avellar e Nunes concordam: o cinema não
necessita apenas de fomento, mas sim da criação de
um instrumento estatal fiscalizador e regulador do mercado cinematográfico.
Nesse sentido, a Agência Nacional de Cinema (Ancine), criada
ainda na gestão de Fernando Henrique Cardoso, em 2001, veio
preencher essa lacuna. “A criação da Ancine
foi uma boa medida para conseguir a organização de
dados no mercado. É uma agência ativa que irá
completar os setores de produção, distribuição
e exibição”, diz Avellar. Para Nunes, o mais
importante é a limitação da entrada no mercado
da produção estrangeira, principalmente norte-americana,
que concorre de forma desleal com a produção brasileira.
“O governo Lula tem clareza de que a indústria do audiovisual,
além de ser fundamental para a soberania do País e
para a promoção da cultura brasileira, é um
setor com grande potencial para o desenvolvimento econômico
e social.” Há
quem acredite que a política cultural do PT caminhe na direção
de um centralismo estatal, mas Nunes discorda totalmente dessa afirmação.
“Qualquer crítica nesse sentido é preconceituosa
e simplista. As pessoas que criticam o centralismo democrático
se negam a reconhecer que nós estamos promovendo debates
e indo às bases para constatar isso.” Para Avellar, o centralismo estatal não é um problema e não se deveria estranhar a participação do Estado no setor cultural. Importante é discutir de que forma essa participação acontecerá. “Não existe atividade cinematográfica sem a ação de uma política cultural do Estado.” Ele cita o exemplo dos Estados Unidos: “Ainda que os produtores sejam independentes, o Estado norte-americano estabelece leis de proteção de seu mercado para evitar a invasão de filmes estrangeiros. As relações do Estado com o cinema não se restringem à produção e à exibição”.
|
O Jornal da USP é um órgão da Universidade de São Paulo, publicado pela Divisão de Mídias Impressas da Coordenadoria de Comunicação Social da USP.
[EXPEDIENTE] [EMAIL]