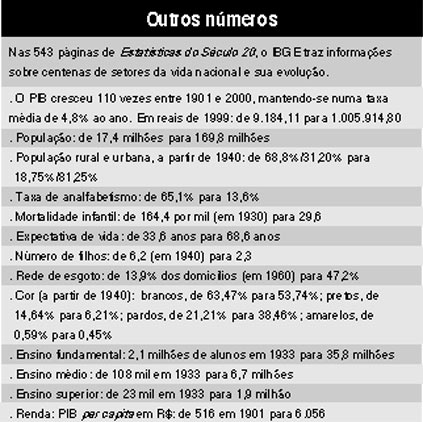|
| |
| NESTA EDIÇÃO |
| |
| Números
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
sobre o século 20 divulgados na semana passada indicam que
o Brasil continua sendo um país de contrastes: se entre 1901
e 2000 a população passou de 17,4 milhões para
169,6 milhões, o Produto Interno Bruto se multiplicou por
cem, o PIB per capita por 12, e a expectativa de vida saltou de
33,4 anos em 1910 para 64,8 anos no final do século, é
também verdade que a distribuição de renda
se mantém profundamente desigual e injusta, gerando pobreza
e exclusão social. O Brasil
teve no século passado uma das mais altas taxas de crescimento
do planeta, conforme observa o professor Simão Davi Silber,
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
da USP, especializado nas áreas de macroeconomia, economia
brasileira e economia internacional. Mas
esse progresso se manteve apenas até os anos 80. A partir
daí, o desempenho é bem mais modesto, porque o modelo
econômico se esgotou – era muito voltado para o mercado
interno, muito estatizante, regulamentador demais e levou o setor
público à falência. Nos últimos 20 anos
do século, vários governos tentaram consertar a política
econômica, mas com poucos resultados. Não se conseguiu
transitar do modelo fechado, comandado pelo Estado, convivendo com
uma inflação crescente, para um país estável,
com inflação baixa, mais inserido no mundo, em que
o governo não é provedor de tudo como foi no passado.
O modelo tinha muita empresa estatal, metia-se em tudo e se descuidava
da atividade social. Para
Silber, a inflação foi o maior flagelo do século,
particularmente depois dos anos 80, e a razão de o País
não ter a partir daí bom desempenho é porque
perdeu totalmente o controle sobre ela. Com toda a certeza, foi
a responsável pela redução do crescimento da
economia e pela perda de credibilidade do País. Para conviver
com a inflação, volta e meia se mexia nos contratos
e se rompia com direitos adquiridos, o que não está
totalmente resolvido ainda hoje. Outro
efeito danoso da inflação foi a piora na distribuição
de renda. A inflação é sobretudo um imposto
sobre os pobres e o seu descontrole fez aumentar a pobreza, principalmente
na segunda metade da “década perdida” e na primeira
da seguinte. Quanto
à dívida externa, Silber considera-a absolutamente
irrelevante, hoje. No passado, ela ajudou no crescimento; depois,
com a subida das taxas de juros, atrapalhou. Agora, o grande problema
do Brasil não é a dívida externa, mas a interna.
São coisas diferentes, a começar pela moeda de pagamento.
A dívida externa quita-se em dólar, a interna em reais;
a externa vence a longo prazo, até 2024, e com juros relativamente
baixos; a interna é curta e cara, vence em 32 meses. Mas,
para quem deve o governo internamente? A seus financiadores: bancos,
empresas, indivíduos e aplicadores internacionais que trazem
dinheiro e com ele compram títulos do governo, que rendem
juros em reais. Do endividamento total do governo, 80% são
dívida interna. Traduzindo em reais, a dívida líquida
do Brasil é de 900 bilhões, o que corresponde a 57%
do PIB nacional. “Quem gasta mais do que ganha faz dívida.
O governo brasileiro foi perdulário, gastador, desequilibrado,
teve contas ruins e fez dívida grande. Agora, tem que fazer
dieta de emagrecimento, cortar despesas”, recomenda o economista,
mas tranqüiliza: é remota a possibilidade de a bola
de neve voltar. O governo Lula está sendo muito duro e nos
próximos anos espera-se uma redução do peso
da dívida na economia nacional. Como
medir a qualidade de vida da população? Para quem
não é familiarizado com as coisas da economia, Silber
explica: existe um método bolado pelo famoso economista Amartya
Sen, chamado IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e adotado
pela ONU. Esse índice leva em conta três componentes:
renda per capita, escolaridade média da população
e expectativa de vida da população ao nascer. Num
país em que a expectativa de vida é razoável,
a renda per capita é mais alta e as pessoas têm acesso
à educação e à saúde. Portanto,
escolaridade e esperança de vida ao nascer são indicadores
da educação e da saúde. No Brasil, o que piorou
foi a distribuição de renda, mas melhoraram a educação
e a saúde. “O brasileiro – e o relatório
do IBGE é claro nisso – está vivendo mais, já
beirando os 70 anos em média de vida”, diz Silber,
acrescentando que a diferença mais importante é entre
Estados do Centro-Sul e do Norte-Nordeste. No Norte-Nordeste, os
indicadores são parecidos com os de países africanos.
“Se formos ao Piauí ou Maranhão, os indicadores
sociais são parecidos com os de Serra Leoa e Burkina Faso.
Mesmo
assim, o País melhorou, embora pudesse estar bem melhor se
tivesse educação de boa qualidade, se não tivesse
havido uma inflação maluca até 1994 e se o
governo não tivesse errado na política econômica.”
As
estatísticas divulgadas pelo IBGE indicam que a inflação
no século foi de um quintilhão por cento. Silber considera
o cálculo confiável, pois os índices de custo
de vida são acompanhados há aproximadamente cem anos.
E volta a atacar o grande vilão: começamos a aceitar
a inflação e perdemos o controle. A ela se creditam
a moratória declarada unilateralmente por José Sarney,
quando era presidente, e o confisco do dinheiro do povo pelo ex-presidente
Fernando Collor de Mello. Segundo
o IBGE, o caminhar médio da inflação anual
foi num crescendo, de 6% nos anos 30 para 12% nos anos 40; 19% nos
anos 50; 40% nas décadas de 60 e 70; 330% nos anos 90 e 764%
de 1990 a 1995, caindo para 8,6% de 1995 a 2000. Conclusão
do professor Silber: “O grande problema do Brasil é
o governo”.
Silber
está convencido de que o País investe na educação,
criando salas de aula, e caminha para a universalização
do ensino fundamental; 98% das crianças vão para a
escola, existem programas de reforço alimentar e não
falta material de apoio didático. “Ainda é um
ensino pobre, mas se compararmos com o que tínhamos 15 anos
atrás melhorou substancialmente.” Mas o economista
não acredita no acerto da Prefeitura de São Paulo,
e aí há concordância com Paro, quando gasta
muito dinheiro na construção de escolas-modelos como
o CEU (Centro Educacional Unificado). Ele teme que se repita o que
ocorreu no Rio de Janeiro com os Cieps do ex-governador Leonel Brizola.
Projetos muito ambiciosos que, por falta de recursos, não
podem ser universalizados. “Quando se começa a construir
piscina na escola, é muita sofisticação e não
dá certo”, alerta o economista. Paro
disse que foi ver pessoalmente um CEU e não gostou: havia
36 alunos do ensino fundamental na sala de aula. “É
um crime de lesa-infância, e nem a Unesco tolera tanta gente
espremida.” Mas para o educador o mais grave é que
as estatísticas oficiais e sua interpretação
encobrem a ausência de uma educação que consiste
em muito mais do que salas cheias: educar é dar ao aluno
condições de se desenvolver em ambiente de paz, diálogo,
carinho e liberdade; de saber e poder apreciar uma obra de arte,
ouvir boa música, jogar capoeira, dançar, cantar.
“Nossa escola não faz nada disso.” Diante
desse quadro, o professor da USP considera ridículo dizer
que houve no século 20 progresso na educação.
Proporcionalmente
há menos analfabetos do que no início do século
passado, mas eles são muito mais numerosos, são milhões.
Matricular todas as pessoas é obrigação do
Estado; se uma só ficar fora já é fato grave.
Dois milhões fora da escola é como excluir do ensino
todos os habitantes de um país europeu. Mesmo assim, Paro
diz conhecer no Brasil coisas boas, “que não estão
nos jornais”. É bom saber, afirma, que em Ipatinga
(MG), Itabuna (BA), Belo Horizonte (MG), Belém (PA) e Porto
Alegre (RS) existem projetos de educação “decentes”
e que isso se deve a governantes que têm uma visão
abrangente da educação. Não é o caso,
a seu ver, de ministros como o da Educação, que ele
chama de ministro da “seleção”, em razão
da política oficial de avaliação do ensino.
Paro não culpa a universidade pública, que estaria
formando ótimos professores para o ensino fundamental e médio,
que, no entanto, vão ganhar a vida em outra atividade, porque
o Estado paga muito mal. Francisco de Oliveira entende que, se os números forem comparados com os do século 19, o Estado obteve avanços notáveis na área educacional, principalmente até os anos 70; depois disso, entrou na era da sociedade de massa, em que a educação “se abastarda”. O papel da universidade foi fundamental ao oferecer ensino público, laico e gratuito. Pena, lamentou, que as universidades públicas estejam em regressão, dando lugar às particulares, que pouco ligam para a pesquisa e a qualidade. A educação não pode ser para o mercado, mas para enfrentar as mudanças do mercado. Deve abrir caminhos e possibilidades intelectuais a todos os cidadãos.
|
O Jornal da USP é um órgão da Universidade de São Paulo, publicado pela Divisão de Mídias Impressas da Coordenadoria de Comunicação Social da USP.
[EXPEDIENTE] [EMAIL]