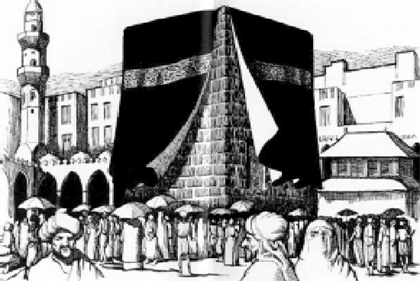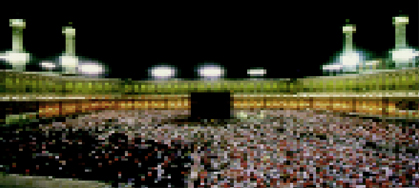|

A
solução do conflito no Iraque e, por extensão,
da crise de relações entre o mundo ocidental e o muçulmano,
vai depender muito do que o Ocidente fizer, mas também dos
debates internos do próprio islã. No momento, os fundamentalistas
mais radicais ganham força, mas também existe a consciência
de que a vitória dos extremistas seria uma catástrofe,
em primeiro lugar para os próprios muçulmanos, na
sua maioria moderados. Se as armas são a única resposta
ao terror, com os moderados tem que haver diálogo e ao mundo
muçulmano empobrecido, em muitos casos estruturalmente desequilibrado,
não se pode negar subsídios para um desenvolvimento
mais justo. Sem a convergência de valores não haverá
resposta coletiva ao terror, nem esperança de que muitos
governos ditatoriais dêem lugar a formas mais democráticas
de poder. A análise da guerra no Iraque no contexto das relações
internacionais é feita pelo historiador Peter Demant, holandês
de origem, estudioso do Oriente Médio e suas religiões,
outrora engajado no diálogo entre palestinos e israelenses
e hoje professor de História da Ásia na Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, agora dando
curso de Relações Internacionais na Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade. Para além do
meio acadêmico, Demant ganhou notoriedade no Brasil graças
ao lançamento do livro O mundo muçulmano (Editora
Contexto), em que explica suas origens, discute os impasses contemporâneos
e sugere saídas.
Segundo Demant, entre as causas do conflito no Iraque existe uma
mistura de elementos civilizacionais, religiosos, políticos
e geopolíticos. De início, é preciso lembrar
que o regime de Saddam Hussein não era fundamentalista ou
religioso, mas secularista e nacionalista. Só nos anos 90
o ditador começou a manipular símbolos religiosos
para manter o apoio da população e ganhar legitimidade
no universo muçulmano. E ele precisava disso porque, logo
depois de o aiatolá Ruhollah Khomeini estabelecer a República
Islâmica do Irã (1979), o mundo árabe passou
a temer o expansionismo da revolução islâmica
e Saddam Hussein foi o primeiro a reagir violentamente, agredindo
o país vizinho, numa guerra cruel, longa e suja (1980-1988).
Países ocidentais, especialmente Estados Unidos, França
e Rússia, temendo igualmente a expansão religiosa
comandada por Khomeini, apoiaram o Iraque e lhe forneceram armas.
Após a guerra contra o Irã, porém, Saddam tentou,
em seu conflito contra o Kuweit, a Arábia Saudita e os Estados
Unidos, recuperar certo prestígio religioso.
Na análise das causas da invasão do Iraque pelas forças
norte-americanas, no ano passado, o professor Demant leva a sério
três razões: a suspeita de existência naquele
país de armas de destruição em massa; o desejo
de ocidentais “neo-conservadores” de estabelecer a democracia
num país de regime ditatorial, o que – esperava-se –
poderia representar um ponto de partida para uma reação
em cadeia, um possível efeito dominó liberalizador
em todo o Oriente Médio; e cálculos geopolíticos
dos EUA de aproveitar a situação para fortalecer a
sua presença numa das regiões mais críticas
e problemáticas do mundo e, ao mesmo tempo, alertar alguns
países europeus e outras potências de que não
convém desafiar a hegemonia norte-americana. Demant não
considera importantes outras razões possíveis e muito
lembradas pela imprensa para justificar a invasão do Iraque:
a tentativa dos Estados Unidos de garantir a posse do petróleo
iraquiano, e o interesse pessoal e familiar do presidente George
W. Bush.
Em relação às armas que não foram encontradas,
Demant diz que a preocupação maior era que caíssem
nas mãos de terroristas, pois constituiriam enorme risco
para a coexistência pacífica internacional. Pessoalmente,
o professor acreditou na época que as armas existissem. O
problema, segundo ele, é que, fazendo a guerra por esse motivo
e não encontrando as armas, os aliados correram o risco de
ficar desmoralizados internacionalmente. E o lado trágico
da guerra, segundo o historiador, é que ela foi travada sem
legitimidade internacional, por falta de apoio da ONU. As armas
também poderiam ter sido transportadas para outros países
da região e, nesse caso, a situação poderia
se agravar – por um lado, a proliferação multiplica
os riscos de elas serem usadas, por outro, a suspeita cria a “tentação”
de fazer outras intervenções armadas em países
vizinhos. Por exemplo, no Irã e na Síria. “Agora
vai ser mais difícil construir uma vontade de cooperação
internacional”, diz Demant. Antes havia um consenso de que
essas armas existiam, e o debate era somente sobre até que
ponto eram desenvolvidas e perigosas.
Já em dezembro de 2002 o Conselho de Segurança da
ONU havia divulgado uma resolução unânime, advertindo
o Iraque de que era preciso tomar alguma providência. Em 1991,
Saddam Hussein estava próximo de possuir arma nuclear, mas
as instalações onde estavam sendo preparadas foram
destruídas com supervisão da ONU. Contudo, os controles
internacionais impostos ao Iraque estavam longe de ser herméticos.
Sobre a vontade do ditador de desenvolver armas de destruição
em massa existia pouca dúvida; informações
equivocadas de serviços de inteligência, com o pânico
pós-11 de Setembro sobre sua eventual entrega a grupos terroristas,
fizeram o resto para lançar os Estados Unidos rumo à
invasão.
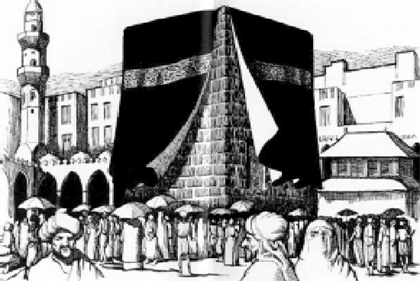
Colonialismo
Para entender a guerra do Iraque e, em escala maior, o atual choque
de civilizações, é necessário lembrar
que, desde alguns séculos, houve como pano de fundo uma política
expansionista do Ocidente. Atualmente disso são acusados
os EUA, mas antes estavam envolvidos países europeus, em
particular a França e a Inglaterra, que se impuseram ao Terceiro
Mundo, inclusive o muçulmano, por sua superioridade militar,
econômica e política. Quando, aos poucos, o mundo muçulmano
reconquistou a independência, o resultado – pelo menos
no Oriente Médio – foi o estabelecimento de ditaduras,
que não refletiam mais os interesses da sua população.
Na época da Guerra Fria, esses regimes autocráticos
se dividiram entre o mundo ocidental e o pró-comunista. As
promessas de desenvolvimento, porém, não se realizaram
em nenhum deles. Até que, terminada essa fase da história,
o fundamentalismo muçulmano passou a representar o risco
maior, colocando-se como resposta contra o Ocidente e contra a modernidade
que prometia. Não se trata apenas de reação
ao controle político e econômico do Ocidente, mas também
de reação à sua influência cultural,
que inclui noções como autodeterminação,
individualismo, soberania popular, direitos civis, em síntese,
a democracia.
Esses valores ocidentais são percebidos como contrários
à doutrina do islã, pelo menos do ponto de vista do
islã tradicional e conservador. Reação parecida
já havia se manifestado do lado do cristianismo, até
que as igrejas, embora parcial e gradualmente, fizessem as pazes
com a modernidade. Para o mundo muçulmano essa acomodação
é imprescindível mas muito mais difícil, porque
o islã não dissocia facilmente a religião da
esfera política e social. Portanto, a relação
com um Estado laico é de tensão. A idéia de
que haveria uma esfera para Deus e outra para o homem, independente
Dele, é para o muçulmano religioso uma quase blasfêmia.
A princípio, a palavra de Deus, transmitida a Maomé
e escrita no Alcorão, disciplina não apenas as formas
rituais, as rezas que o homem deve fazer, mas indica também
o modo como ele deve se relacionar com a família, como o
homem deve se relacionar com a mulher, com a economia, com o comércio,
como aplicar as punições contra quem transgride a
lei, e como devem ser o governo e as relações internacionais.
Essa forma de religião unida ao Estado funcionou relativamente
bem no início, entre os séculos 7 e 10, quando o islã
inspirou uma expansão fulgurante e uma das civilizações
mais avançadas do mundo. Aparentemente, realizava-se então
a promessa de Deus a seus fiéis (aliás, o compromisso
de converter para o seu Deus o mundo inteiro é comum ao islã
e ao cristianismo e diferente do judaísmo, pois este não
recebeu a missão expansionista). Com o tempo, porém,
particularmente nos últimos três séculos, os
muçulmanos perderam terreno – geográfico, político
e cultural – e caíram em grave crise.
Viram-se
diante de uma impossibilidade teológica, indagando a si próprios:
como pode acontecer a derrota se Deus prometeu a seu povo que, se
fosse fiel, seria o mais forte do mundo? Diante da dúvida
e da crise, pensadores muçulmanos buscaram saídas,
e três caminhos possíveis foram apontados: recusar
qualquer “contaminação” ocidental e voltar
ao tradicionalismo rígido das origens; harmonizar o islã
com a vida moderna: racionalismo, ciência, liberalismo; ou
suplantar a identificação religiosa por um nacionalismo
secular, à maneira ocidental, que inclui a separação
entre Igreja e Estado. No mundo árabe (ao contrário
de certos outros países muçulmanos, como a Turquia,
por exemplo), os três modelos fracassaram e a crise se tornou
mais aguda nas últimas décadas.
Surgem então os fundamentalistas muçulmanos, ou seja,
os islamistas, para quem a fraqueza e a miséria ocorrem,
não porque o povo muçulmano seja religioso demais,
mas porque não o é na medida suficiente. “Se
houver um retorno a Deus, ele certamente tornaria a abençoar
a sua gente.” Mas à diferença, crítica,
dos tradicionalistas, os fundamentalistas procuram realizar sua
utopia anti-moderna usando meios tecnológicos modernos. Aqui
está, segundo Demant, a base do desafio dos fundamentalistas
contra o Ocidente – e contra os direitos das próprias
populações muçulmanas, pois só uma minoria
entre elas aprova o projeto totalitário que os fundamentalistas
querem impor a todos.
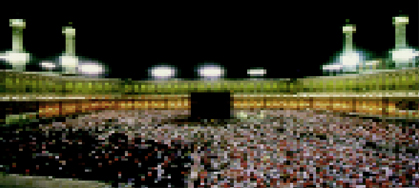
Democracia
Diante da atração do mundo muçulmano pela receita
fundamentalista – e os muçulmanos somam cerca de 1,3
bilhão de pessoas no mundo todo – o professor Demant
se pergunta se é possível estimular no Iraque, e em
outros países islâmicos, uma democracia. Lembra, de
início, que os fundamentalistas são uma minoria no
mundo muçulmano e entre eles a maior parte não é
violenta, embora a maioria dos terroristas atuais seja certamente
fundamentalista.
O professor recorre ao desenho de um círculo concêntrico
de quatro linhas para tentar explicar a variedade de tendências
no mundo muçulmano. Na linha do círculo maior, coloca
as centenas de milhões de pessoas que têm queixas contra
o Ocidente, e que se justificam, pelo menos parcialmente. Há
um desequilíbrio de recursos e de poder nos dois mundos,
sendo que depois da descolonização a situação
dos países muçulmanos se agravou e eles enfrentam
gravíssima crise estrutural. Sofrem também de falta
de liberdade, vivendo em sociedades autoritárias, enquanto
o Ocidente endurece o jogo.
Dentro desse círculo externo se enquadra um segundo círculo,
os fundamentalistas, que apontam para um projeto de Estado onde
devam vigorar as leis do islã, valendo para toda a população
e transformando os países em teocracias, à maneira
do modelo das primeiras comunidades muçulmanas. Entre esses
fundamentalistas só uma minoria pegaria em armas, enquanto
muitos recomendam atuação política e trabalho
social. Um exemplo dessa tendência está no Egito, onde
a Irmandade Muçulmana, tentando introduzir na legislação
a xaria (leis canônicas islâmicas), com separação
entre homens e mulheres, educação religiosa e sermões
obrigatórios, combate às influências ocidentais,
mas sempre de modo legal, atuando como partido político e
sem violência. No interior do segundo círculo está
um terceiro, ainda menor, de fundamentalistas que perderam a esperança
de uma transformação pacífica em países
onde não há democracia e oposição legal.
Entre os islamistas violentos, a maior parte agride o próprio
país e buscaria transformar toda a população
em muçulmanos fundamentalistas. São exemplos disso
os talibãs do Afeganistão, os fundamentalistas que
assassinaram o presidente Sadat no Egito e os que fizeram a revolução
religiosa no Irã em 1978/79. Só a minoria mais extremista
dessa minoria, simbolizada pelo círculo mais interno, ataca
diretamente o Ocidente como origem do mal. O ponto central do círculo
é um bom lugar para Bin Laden.
O professor Demant lembra que terrorismo não é só
aquele que vitima reféns ocidentais e se noticia no dia-a-dia
dos jornais do Ocidente; mais freqüente e terrível é
aquele que se manifesta nos atos de jogar ácido no rosto
das mulheres que deixam parte dele descoberta, ou na violência
que caracterizou a guerra civil na Argélia (1992-2000), que
matou mais de cem mil pessoas. Os círculos internos tentam
provocar reações repressivas da parte dos regimes
locais ou do Ocidente, o que por sua vez radicalizaria os dos círculos
mais periféricos: assim, minorias extremistas seqüestram
politicamente a maioria mais moderada.
Diante desse quadro, Demant pergunta: é possível levar
a democracia a esses países? Na força? Se for viável,
é também legítimo? “Em termos de legitimidade,
sou em princípio a favor de se tentar, mas de maneira política,
pacífica, preferivelmente não militar”, diz,
lembrando que em vários países muçulmanos,
como no Oriente Médio, há um cenário em que,
sem intervenção, a situação certamente
irá piorar muito. Em Estados ditatoriais, geralmente com
interesses vinculados ao Ocidente, grupos islamistas podem tomar
o poder, o que seria negativo para o mundo todo. Daí que
o professor não descarta, sob certas condições,
a necessidade de intervir, acreditando que no Iraque, por exemplo,
a maior parte da população, embora abominando a presença
dos ocidentais, considera que a invasão e a destituição
de Saddam Hussein valeram a pena.
Segundo Demant, fora do Iraque, especialmente no Oriente Médio,
centro do mundo muçulmano, há sociedades complicadíssimas,
com elevado desemprego, frustrações e desespero, onde
a democracia não se implantou. Para essas populações,
“a promessa de globalização se tornou um pesadelo”,
diz, o que as leva a culpar o Ocidente e suas promessas de modernidade.
É certo que existem várias formas de democracia e
as que poderiam ser desenvolvidas nos países muçulmanos
não necessariamente se ajustarão ao modelo do Parlamento
inglês, ou outros modelos ocidentais. A maior parte da população
muçulmana deseja que a vida pública leve em conta
um certo papel inspirador do islã, e isso não se opõe
à democracia. O que conta é autodeterminação,
direitos civis, controle pela maioria, mas respeito às minorias.
No próprio Ocidente democrático não existem
partidos que estimulam, por exemplo, a aceitação de
valores religiosos? Na Turquia, na Bósnia, na Indonésia,
todos muçulmanos, e na Índia, com sua numerosa maioria
muçulmana, há governos democráticos. É
a forma de governo que vai conquistando a maior parte do mundo.
Do dilema modelo fundamentalista ou modelo democrático, o
Iraque não escapa. Na opinião de Demant, trata-se
de uma corrida contra o relógio e cabe à comunidade
internacional ajudar os iraquianos a fazer a escolha certa.
|

Um livro da hora
Poucas
vezes um livro vem a público em momento tão
apropriado como O mundo muçulmano, do professor Peter
Demant. Chega às livrarias exatamente quando se agrava
a tensão no Iraque ocupado por tropas norte-americanas
e de seus aliados e se multiplicam as ações
terroristas atribuídas a fundamentalistas islâmicos.
É a “guerra entre civilizações”
em andamento, opondo forças e interesses do Ocidente
e do Oriente; de um lado, a suposta modernidade que valoriza
o desenvolvimento econômico e as liberdades individuais
e, de outro, a tradição muçulmana que
unifica conceitos civis e religiosos. Além de informativa,
a obra do professor Demant tem o mérito da extrema
clareza, didática como um manual de classe, mas também
ricamente documentada e ilustrada. É ainda um livro
sem rancores, escrito por um especialista em questões
do Oriente Médio, que se doutorou na Universidade de
Amsterdã (Holanda) com trabalho sobre a colonização
israelense de territórios palestinos; foi pesquisador,
em Jerusalém, de um instituto (Harry S. Truman) voltado
para a busca da paz e se envolveu no diálogo acadêmico
entre judeus e palestinos. Casado com uma brasileira, Demant
veio ao Brasil em 1999 e, dois anos depois, foi convidado
pelo Departamento de História da USP para dar aulas
de História da Ásia e Relações
Internacionais, curso interdisciplinar agora em desenvolvimento
na FEA. Sua proposta mais recente na USP é a abertura
de curso de pós-graduação destinado a
comparar as reações ao fundamentalismo muçulmano
nos Estados Unidos, Israel e Índia.
Dividido em três partes — Ontem, Hoje e
Amanhã —, O mundo muçulmano responde a
perguntas comuns no Ocidente, como estas: o islã é
uma religião de violência? Constitui ameaça
ao Ocidente? Por que o islamismo ganha cada vez mais adeptos
entre os ocidentais? Como se explica que uma tradição
de cultura tão rica conviva com atentados em série?
Especificamente em relação ao Brasil, informa
sobre a origem dos relativamente poucos muçulmanos
aqui estabelecidos e a importância que teve a escravidão
para a vinda de muçulmanos africanos. Embora guerras
e conflitos tenham marcado sobremaneira os 14 séculos
de convivência das civilizações judaico-cristã
e muçulmana, a obra do professor Demant conclui que
a paz é possível e até sugere os melhores
caminhos para se chegar lá.
|
|