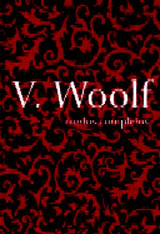|
 |
| Katherine
com turbante árabe em Rottingdean, na Inglaterra, em
1910 |
Katherine
Mansfield e seu marido John Murry, em foto datada de cerca de
1920 |
Virginia
amava Leonard. E amava Vita. E amava Katherine. E odiava Katherine,
que também amava e odiava Virginia. Em seus 58 anos de vida
a escritora inglesa Virginia Woolf – autora de Orlando e Um
teto todo seu, entre outros – cultivou amores, rancores e um
desequilíbrio mental crescente que acabou por levá-la
ao suicídio, em 1941. Foi casada por três décadas
com Leonard Woolf, teve um tórrido relacionamento amoroso
com a aristocrática Vita Sackville-West e manteve uma relação
intelectual ambígua com a também escritora neozelandesa
Katherine Mansfield. Ao mesmo tempo que admirava o talento de contista
de Katherine – tendo, inclusive, publicado um de seus primeiros
livros pela editora Hogarth Press, que ela e o marido haviam fundado
–, nutria um ciúme quase patológico pelos escritos
da colega. “Katherine acaba de publicar um novo livro. Como
ela escreve bem! Eu a odeio!”, registrou Virginia em seu diário
a respeito de uma nova edição de contos da rival/amiga.
Essa rivalidade e, ao mesmo tempo, proximidade, entre duas das principais
autoras de língua inglesa do começo do século
20 pode ser posta à prova agora, com a edição
simultânea dos volumes que reúnem os contos completos
de Virginia Woolf – incluindo o até agora inédito
“Um diálogo no monte Pentélico” – e
uma seleção dos contos de Katherine Mansfield, extraídos
de livros como Numa pensão alemã, de 1911, Felicidade
e outros contos, de 1920, e A festa no jardim, de 1922. As coletâneas
são obra da CosacNaify e trazem duas das principais marcas
registradas da editora paulistana: o apuro gráfico dos volumes
e um cuidado editorial traduzido nos alentados apêndices que
encerram os dois trabalhos – no de Virginia, organizado por
Susan Dick, há informações sobre a produção
e a recepção dos contos, relacionando-os ainda entre
si e com a própria biografia da autora. Já se disse
certa vez que tudo o que se escreve tem um quê de autobiográfico.
A partir do apêndice elaborado por Susan pode-se ver como
esse axioma, em Virginia Woolf, ganha tonalidades de verdade. E,
para não se perder a conexão, também em Katherine
Mansfield, cuja seleção de contos recém-publicada
foi aquinhoada com um apêndice que reproduz excertos de seus
diários comentando cada história escrita.
 |
 |
Virginia:
a condição feminina em
tempos pós-vitorianos |
Virginia
e Leonard Woolf, em 1912 |
Tempos
modernos
É importante situar a obra de Virginia e Katherine no contexto
de sua época e em que condições isso se deu.
Afinal, estamos falando de duas mulheres que nasceram e se criaram
em um ambiente vitoriano – com tudo o que de vetusto e opressivo
isso possa significar – e desenvolveram sua literatura e suas
ações sociais justamente na contramão do que
era apregoado pela hipocrisia vigente. De várias formas elas
inauguraram uma modernidade na cultura britânica, e não
se está falando unicamente de literatura. O próprio
triângulo amoroso às claras entre Virginia, Leonard
e Vita já seria o suficiente para chacoalhar as estruturas
da velha a aristocrática Albion. E Katherine não ficava
atrás. Amante de perfumes e roupas caras, ela namorou muito
– homens e mulheres –, ficou casada por apenas um dia
(o nome do noivo desafortunado se perdeu na história, mas
o fato de ela tê-lo abandonado no dia seguinte da cerimônia,
não) e acabou se envolvendo, e depois se casando a sério,
com o crítico literário John Middleton Murry. Ou não
tão a sério assim, já que vida conjugal não
a impediu de continuar dando seus pulinhos, como em seu envolvimento
com o autor francês Francis Carco – o que chocou seu
amigo D. H. Lawrence, que era capaz de escrever histórias
impublicáveis (mesmo, já que nenhuma editora inglesa
ousava editá-las), mas intimamente prezava a santa e tradicional
instituição da família. Como aponta uma nota
no apêndice do volume de contos de Katherine, esse romance
extraconjugal é retratado, segundo alguns biógrafos,
no conto “Uma viagem indiscreta”, no qual Katherine reproduz
literariamente uma visita sua a Carco, incorporado no serviço
de correios do exército francês durante a Primeira
Guerra Mundial. Mas esses casais eram modernos, lembram? Por isso,
nem Leonard nem Murry abandonaram suas esposas saltadoras por causa
de uns arrulhos a mais. Leonard Woolf continuou na vida de Virginia
até o dia em que ela amarrou pedras na cintura e deu sua
última caminhada em direção a um lago, e afundou.
E Murry se incumbiu de editar as obras póstumas da mulher
– que morreria de tuberculose aos 34 anos – e de zelar
por sua memória.
Mas basta de histórias de alcova. Afinal, elas não
ficaram famosas pelo que fizeram – apesar de isso dar um colorido
especial às suas vidas –, mas sim pelo que escreveram.
E como escreveram (e aqui não cabe a alusão de que
Virginia, a exemplo de Hemingway, só escrevia de pé).
E a modernidade, ou o modernismo, que elas – mais Virginia,
é verdade – ajudam a criar se traduz na reinvenção
da narrativa, procurando quase sempre fugir da descrição
linear de uma ação. Ao subverter os cânones
até então vigentes da literatura, Virginia Woolf mistura
observações próprias e narrativa ficcional,
redistribuindo falas, ações e pensamentos de seus
personagens, criando uma atmosfera inovadora e, ao mesmo tempo,
próxima para o leitor. Como em “A apresentação”:
“Oh, era feito de um milhão de coisas, todas diferentes
dela; a abadia de Westminster; a sensação de que eram
enormemente altos e solenes os prédios em derredor; e a de
ser mulher.
Essa era talvez a que se tornava evidente, a que permanecia, e era
em parte o vestido, mas todos os pequenos gestos de cavalheirismo
e respeito da sala de visitas – tudo a fazia crer que ela saía
então da crisálida para ser proclamada o que na confortável
escuridão de sua infância nunca tinha sido – essa
frágil e bela criatura diante da qual os homens se curvavam,
essa criatura limitada e circunscrita que não podia fazer
o que bem quisesse, essa borboleta com milhares de facetas nos olhos
e uma delicada e fina plumagem, com dificuldades e suscetibilidades
e tristezas inúmeras; uma mulher.” Ao mesmo tempo que
fala de sua personagem, Virginia fala da condição
feminina naqueles tempos pós-vitorianos – mas ainda
eivados da ideologia da rainha que impôs à Inglaterra
não um estilo de reinado, mas um estilo de vida. Esse questionamento,
além de sua construção frasal, sua arquitetura
do texto, sua pontuação por vezes elíptica
e sua dicção peculiar, são alguns exemplos
do que Virginia estava construindo, como ela estava erguendo seu
prédio literário e como aquilo ficaria para a posteridade.
Isso, pode-se avaliar bem melhor com a leitura atenta e prazerosa
dos 46 contos do volume, bem traduzidos pelo poeta Leonardo Fróes.
Já Katherine Mansfield, mais prolífica que Virginia
– publicou mais de uma centena de contos –, talvez não
tenha sua modernidade imediatamente identificada por leitores menos
atentos. A própria inspiração autobiográfica
em seus textos, de certa forma, impediu esse reconhecimento imediato.
O que denota de pronto nos contos de Katherine é o viés
poético que emerge inicialmente deles, a premência
do instante. Mas é justamente nesse instante que muitas vezes
a autora se detém que reside seu toque de modernidade. A
intensidade narrativa de pequenos acontecimentos, como que para
registrar definitivamente os pormenores que a vida acaba por nos
fazer esquecer – mas que são justamente aqueles que
têm o condão de mudar uma vida inteira –, é
a sua característica principal como contista, deixando os
entrechos romanescos menos explorados. Ela é uma grande contadora
de histórias, mas não necessariamente uma fabulista
ou uma pintora de grandes quadros.
Talvez, sim, uma precursora do minimalismo – com todas as aspas
que a palavra possa requisitar nesse caso –, se detendo no
detalhe, e não no todo. Há o recorte, e não
a grande-angular. Em uma época em que o grande painel do
romance era quase que uma exigência, inverter as mãos
e procurar um deus muito peculiar no detalhismo da ação
– ou até mesmo da falta de ação –
era querer ser moderna. E conseguir, seja lá o que essa tal
modernidade, afinal, possa querer traduzir.
Virginia e Katherine se tangenciam em vários pontos. E mesmo
quando se afastam é, para em um movimento circunférico,
se encontrarem outra vez. Pode ter sido mera coincidência
a CosacNaify publicar seus volumes de contos ao mesmo tempo. Mas
poucas coisas fariam tanto sentido.
|
Vozes
brasileiras e femininas
O
século 19 produziu no Brasil uma legião impressionante
de grandes autores, desde, entre outros, Castro Alves, José
de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Machado de Assis, a
estrela mais fulgurante dessa constelação. Todos
eles, cada um a seu modo, ajudaram a alicerçar o que
chamamos hoje de literatura brasileira e a dar uma nova dimensão
à língua portuguesa. Mas um porém nessa
lista que acaba de ser citada (e que poderia ser acrescida
de muitos outros nomes): os autores listados são todos
homens. Então, afinal, não havia escritoras
no Brasil dos oitocentos? A sociedade brasileira de dois séculos
atrás, tão reconhecidamente machista, não
permitia que letras femininas chegassem ao livro impresso?
A resposta a essas perguntas pode ser encontrada nos dois
volumes de Escritoras Brasileiras do Século XIX, organizados
por Zahidé Lupinacci Muzart e, não coincidentemente,
publicados pela Editora Mulheres, em parceria com a Editora
da Universidade de Santa Cruz do Sul, de Santa Catarina.
Os dois volumes da antologia reúnem cerca de uma centena
de autoras – nomes pouco ou nada conhecidos, como Georgina
Mongruel, Honorina Galvão Rocha e Julieta de Melo Monteiro
– que mostram, sim, que havia vozes brasileiras e femininas
no século 19 – só que elas eram pouco ouvidas
ou estavam abafadas por vozes mais tonitruantes que cantavam
Capitus e Moreninhas. “E quem disse que não havia
mulheres escritoras no Brasil do século XIX? Ali estão
elas, surgindo em voz direta, nos textos que compõem
a seleção, ou por via indireta, nos textos que
as apresentam e que, por vezes, contêm considerações
de caráter analítico, crítico e interpretativo”,
escreve em sua apresentação ao segundo volume
da coletânea a professora da USP Nádia Battela
Gotlib. “Se há transcrição dos textos
das escritoras, é porque, seja do ponto de vista estético,
seja do ponto de vista sociopolítico, têm realce
e importância no trabalho implícito de luta pela
afirmação de uma mentalidade emancipatória
da mulher, ciente da necessidade de se livrar dos jugos de
violência e dominação patentes no contexto
social brasileiro
de seu tempo.”
A professora tem razão. Na maior parte dos textos,
vê-se uma preocupação das autoras com
sua condição feminina – e que não
confundamos esse conceito com algum protofeminismo –,
com os cuidados com o lar e com a moral, mas também
com uma aceitação aos apelos da ação
social. Dentro desse universo cultural multifacetado, a produção
artística dessas mulheres se diversifica em poemas,
contos, ensaios, artigos, peças teatrais, romances.
Muitas vezes, essas mulheres deixam de ser apenas autoras
para serem também objetos de seus escritos, em uma
auto-reflexão de sua própria condição
social. Elas tinham consciência que o Brasil ainda não
estava preparado para ter uma George Sand ou uma Lou Salomé.
Mas nem por isso deixavam de escrever, mesmo que fosse para
destilar uma certa ironia amarga, como fez a piauiense Luísa
Amélia de Queirós (1838-1898), considerada a
primeira poeta de seu Estado:
A
mulher que toma a pena
Para em lira a transformar
É, para os falsos sectários,
Um crime que os faz pasmar!
|

Francis Birrell, Lytton Strachey e Saxon Sydney: o grupo de Bloomsbury
discutia
sobre tudo e sobre todos
|
Quando
Londres era uma festa
Em
um livro célebre de memórias, o americano Ernest
Hemingway escreveu que Paris nos anos 20 era uma moving feast
– uma “festa móvel”, onde nomes como
Pablo Picasso, F. Scott Fitzgerald e Gertrude Stein viviam
se trombando. Mas não era só na Cidade Luz,
na década de 20, que grupos de intelectuais das tendências
mais diversas – mas com alguma coisa em comum –
acabavam se sentindo atraídos uns pelos outros para
um gole de absinto e um papo-cabeça. Nova York, por
exemplo, produziu o grupo do Hotel Algonquin, onde despontava
a apimentada Dorothy Parker, que varava noites em tertúlias
intelectuais e comentários mordazes sobre tudo e todos.
E em Londres também. Só que, noblesse oblige,
o grupo formado em torno de Virginia Woolf, sua irmã
Vanessa Bell, o escritor Lytton Strachey e o economista Maynard
Keynes, entre outros, era um pouco mais, digamos, comportado.
Pelo menos para consumo externo.
O grupo de Bloomsbury, como ficou conhecido – em homenagem
ao bairro londrino onde morava Virginia e na casa de quem
muitas reuniões aconteciam –, era um emaranhado
de opiniões discordantes e posturas ideológicas
conflitantes, mas que a tudo tratava de maneira franca e afetuosa.
Talvez nenhum grupo literário, instituição
acadêmica ou corrente filosófica tenha exercido
tanta influência sobre as artes do Ocidente, no início
do século 20, quanto Bloomsbury – seus componentes,
de várias maneiras, ajudaram a inaugurar o que chamamos
de modernidade nas mais variadas manifestações
artísticas e culturais. E justamente devido ao tratamento
amistoso de idéias diferentes. Isso explica sua importância
e influência. Em Bloomsbury acreditava-se, de fato,
que podia haver discussão pacífica e racional
– para não dizermos civilizada – a respeito
de qualquer assunto. Se não fosse assim, como explicar
o assento à mesma mesa de duas figuras tão antagônicas
quanto o genial, idiossincrático e assumidamente homossexual
Strachey e o contido e pragmático Keynes? Nenhum de
seus integrantes desconhecia o aspecto por vezes irracional
e violento das relações pessoais e sociais,
mas reagia contra ele, fosse ridicularizando-o, fosse tentando
encontrar uma forma de contê-lo.
O grupo de Bloomsbury – que, diferentemente de outros,
adorava sair para convescotes no campo e não se restringia
às quatro paredes de seus encontros urbanos –
pontificou em Londres até estourar a Segunda Guerra
Mundial. Nos anos 40, ele perdeu sua força e saiu de
moda, muito devido às mortes de Strachey, Roger Fry
e Virginia Woolf. Muito, também, porque aquele mundo
que gerara o círculo de amigos intelectuais da capital
inglesa estava se metamorfoseando de forma radical, e talvez
não houvesse mais espaços para discussões
intrincadas e piadas sarcásticas. Bloomsbury, como
grupo, deixou de existir – mas suas idéias acabaram
por entrar na história.
|
|