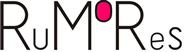 |
|||||||||||||||||||

O presente criou as coisas que se não vêem mas se presumem, a atmosfera de assombro em que todos nós, sem espanto, erguemos alto o archote da visão. O presente personalizou o inerte, deu cérebro e pensamentos às máquinas... (João do Rio: Discurso de recepção, na ABL, 12/08/1910)
Em janeiro-fevereiro de 2010, o Centro Cultural dos Correios do Rio de Janeiro realizou a mostra 1908 – Um Brasil em Exposição, com a curadoria da historiadora urbana Margareth da Silva Pereira. A mostra é uma retrospectiva da Exposição Nacional de 1908, realizada no Rio de Janeiro, então Capital Federal, para comemorar o centenário da Abertura dos Portos às Nações Amigas. A exposição é uma vitrine do Rio de Janeiro da Belle Époque e seu progresso, apresentando ao público mais de uma centena de documentos, fotos, cartões postais, catálogos. Se foi um acontecimento econômico e cultural, foi também um acontecimento midiático, estreitamente ligado ao fenômeno comunicacional. As produções iconográficas, a exemplo das fotos de Augusto Malta e de L. Musso, as estereocopias (cf. MACHADO, 2007; ADAMS, 2003), o cinematógrafo, os bilhetes postais (que são os atuais cartões-postais), ao lado da imprensa (jornais – Gazeta de Notícias, A Notícia, Jornal do Commercio, além do Jornal da Exposição, produzido no Pavilhão da Imprensa e editado por Olavo Bilac, também seu principal cronista; e revistas – Kosmos, Revista da Época), funcionaram como instrumentos de mediação que vinham dar continuidade a um longo processo de educação dos sentidos, sobretudo da visão: “ensinar a ver foi uma construção cultural compartilhada por diferentes sociedades no Ocidente, incluindo o Brasil” (PEREIRA, 2010:12). Nesse sentido, a mostra de 2010 resgata boa parte desse material para revelar o que foi esse processo acionado pelas Exposições Internacionais ao longo do século XIX, atrelando o processo às ações de “olhar, comparar, julgar”, que vieram consolidar novas práticas sociais e um novo trinômio: “exibir, admirar, consumir”, ações aliadas ao desenvolvimento tecnológico exibido, pelo qual se julgava o nível de civilidade, cosmopolitismo e progresso de cada sociedade (Cf. PEREIRA, 2010: 16).
A Exposição Nacional de 1908, realizada entre os dias 28 de janeiro e 15 de novembro de 1908, na Praia Vermelha, no bairro da Urca, Rio de Janeiro, foi promovida pelo Governo Federal, para celebrar o centenário do início das livres transações marítimas. O grande evento também tinha como objetivos fazer um inventário da economia, da cultura, da história do país e apresentar a nova Capital da República – urbanizada pelo Prefeito Pereira Passos e saneada por Oswaldo Cruz – a diversas autoridades nacionais e estrangeiras que a visitaram, revelando o Brasil, sua diversidade e seus contrastes, em toda a sua complexidade, pela primeira vez.
O Rio de Janeiro, que em 1908 contava com 800 mil habitantes, recebeu, ao longo dos três meses da exibição, mais de um milhão de visitantes entusiasmados que, para entrar no espaço da Exposição, passavam pelas roletas do Portão Monumental.
Os ritos e os novos ritmos do Rio faziam-no moderno, concretizando a vontade e as estratégias políticas dos donos da República. São acontecimentos “futurísticos” que tendiam a pressupor as infinitas possibilidades do progresso de que ofereciam sinais no presente; idólatras que invocam presságios do futuro, imagens antecipadoras de um mundo que ainda está por vir (HUMPHREYS, 1999). A Exposição dizia respeito ao projeto modernizador do país posto em prática pela República, “para realce de nosso nome e afirmação de nosso progresso, e de apresentar uma súmula de nossa evolução durante um século”, nas palavras da Comissão Diretora da Exposição, nomeada pelo presidente Afonso Pena. O evento, “vitrine do progresso”, para usar a expressão da historiadora Margarida de Souza Neves (1986), elege
- os indicadores urbano-industriais como prova da identidade brasileira, buscando sintonizar o país com o discurso identitário internacional, que, desde fins do século XIX, definia o que era ser um país moderno. Nessa medida, os olhos se voltavam para as reformas urbanas, os trabalhos de modernização dos portos, a construção do sistema ferroviário e os hábitos cosmopolitas (BORGES, 2008: 77).
A exposição era a “teatralização de uma religião leiga que se chama progresso” (NEVES, 1986) e contou com a mobilização das mídias da época (ver BORGES, 2008; MARIANI, 2010).
Tais temas e também suas contradições foram matérias das crônicas de João do Rio e entre elas a série sobre a Exposição publicada na coluna Cinematographo, da Gazeta de Notícias, e em A Notícia (depois, em 1909, reunidas como uma fita em série no livro Cinematographo), quando exalta o acontecimento como o momento de o Brasil descobrir o Brasil, através daquela “Cidade Maravilha criada em oito meses, a obra que tem do milagre de homens portadores de uma energia extraordinária, o triunfo colossal da inteligência e da mocidade. Há vinte anos era possível imaginar tanto progresso?” (Gazeta de Notícias, 28/06/1908). A série confirma, além do noticiário mundano, o entusiasmo que o cronista tinha pelo progresso e pelas transformações operadas pelas tecnologias e pelas máquinas, mesmo que despontasse, aqui e ali, certa nostalgia do Rio de Janeiro da tradição, do país do pitoresco, que a Exposição queria desmontar, ao eleger o urbano como locus privilegiado do progresso brasileiro.
Foi, justamente, depois desse evento, que Paulo Barreto decidiu conhecer a Europa, viagem que era quase obrigatória como rito iniciático, na trajetória dos intelectuais brasileiros. “Viajar! Como eu sentia a necessidade de viajar, só, inteiramente só! E foi quando a Exposição terminou, quando bruscamente a Cidade Maravilha, a obra estupenda apagou o sonho glorioso, não resisti, Vou!” (“Diário de um bárbaro”, Gazeta de Notícias, 10/01/1909). Segue então, em 2 de dezembro de 1908, num navio da Mala Real Inglesa, para Lisboa (que motivou uma série de crônicas, depois selecionadas e reunidas no livro Portugal d’agora, 1911c), Londres (nada foi registrado nas crônicas), Paris, a Côte d’Azur, retornando a Lisboa, de onde embarca de volta ao Rio, em 16 de março de 1909.
Se Paris foi motivo de várias crônicas sobre a vida cultural e mundana, passou-lhe despercebido o Manifesto Futurista, de Marinetti, publicado em Le Figaro, de 20 de fevereiro de 1909. Embora andasse pela Europa nessa época, até prova em contrário, não há nenhuma referência direta ou comentário sobre o Manifesto por parte de Paulo Barreto, o que pode parecer estranho para um jornalista tão antenado com as novidades da arte e do progresso. Não que João do Rio nunca tenha ouvido falar em Marinetti, ou lido algum de seus textos, como atesta a coluna “Cinematographo”, da Gazeta de Notícias, em 23/08/1908, quando comenta a conversa no escritório do advogado James Darcy, e em que, entre outros escritores, o embaixador Luiz de Souza Dantas discorre sobre sua amizade com d’Annunzio. “Mas enquanto Luiz de Souza Dantas conta-nos, sem se poder furtar à admiração e à amizade, eu [João do Rio] lembro o último livro de Marinetti: Os deuses vão e d’Annunzio fica” [sic] (1) . E resume fatos e comentários feitos por Marinetti em relação ao divino Gabriel [sic]: “E Marinetti mostra-nos algumas atitudes de d’Annunzio”. Nem se refere ao ambiente intelectual parisiense em que se operou a primeira manifestação futurista, que obedecia a uma precisa estratégia de provocação de escândalo, que passou distante da percepção de João do Rio, que, de certa forma, estava imbuído (como também Marinetti) do clima decadentista, considerado o mais adequado para exprimir as neuroses (que nosso escritor chama de nevrose) da vida moderna. Ambos foram leitores de Baudelaire, Rimbaud, Nietzsche, Huysmans, Zola (FABRIS, 1987: 4-6).
Uma outra pista pode ser rastreada na coluna “Cinematographo”, de 08/05/1910, em que, comentando os versos de um certo Arnaldo Pereira elogiado por escritores portugueses, Joe (que assina a coluna de Paulo Barreto/João do Rio) também dá seu juízo crítico sobre o livro Poentes, aludindo a uma enquete feita pelos “futuristas” (as aspas são de João do Rio) sobre o verso livre. Cito:
- O Sr. Arnaldo Pereira tem versos que me agradam muito. Outros causam-me uma certa dúvida. Serão maus? Afinal, acabo de ler uma enquête feita pelos “futuristas”, sobre o verso livre, e há nessa enquête uma interessantíssima resposta de Camille Mauclair. Diz ele que ninguém pode ter a vaidade de ter inventado o verso livre, porque há tantos versos livres quanto há poetas. O ritmo é uma questão de conformação cardíaca. Assim, o estado do coração regula o metro e cria o verso polimorfo (RIO, Gazeta de Notícias, 08/05/1910).
O que interessa, aqui, no entanto, não é a questão do verso livre (que será tópico candente na pauta dos modernistas de São Paulo de 22), mas a referência aos futuristas. Como tudo leva a crer, João do Rio tinha lido a Enquête internationale sur le vers libre et Manifeste du Futurisme par F. T. Marinetti (Milano: Éditions de Poésie, 1909). Note-se que nesse mesmo volume, de 1909, publicado em Milão, mas em francês, está também o Manifesto do Futurismo, certamente lido pelo jornalista-escritor carioca.
A alusão é feita em crônica de maio 1910, mais de um ano depois da volta da primeira viagem à Europa, ano em que foram escandalosas as repercussões do Manifesto e seus desdobramentos. Se João do Rio passou batido por tudo isso, o que certamente o afetou, naquela viagem, foi a atmosfera de modernidade com o fenômeno de metropolização, as reformas urbanas, a multidão e o flâneur, o clima de superexcitação (de que fala Georg Simmel, no famoso ensaio “A metrópole e a vida mental”, de 1902), a industrialização, o universo da máquina, as novas tecnologias que alteram a percepção, o desenvolvimento da fotografia, o surgimento do cinema, a invenção do automóvel, do avião, o mito da velocidade (o novo sublime – a beleza da velocidade), o desenvolvimento da mídia impressa (a relação do jornal com a literatura é uma das preocupações de Paulo Barreto, matéria da enquete O momento literário, para a Gazeta de Notícias, e publicado em livro, em 1905). Muitos desses traços o afinam com propostas futuristas.
Esse clima que o mobiliza contamina seu Discurso de Recepção na Academia Brasileira de Letras, em 1910, publicado em Psicologia urbana. Cito um trecho:
- O sonho particular não interessa mais, porque todos nós vivemos num extraordinário sonho de Beleza e de Força. Nunca houve na vida humana um momento igual ao presente [...]. É o milagre permanente, é a maravilha normal [...] A paisagem com a vegetação dos canos das usinas, as sombras fugitivas dos aeroplanos, a disparada dos automóveis, os oceanos [...] desventurados pelos submarinos [...] obrigam o artista a sentir d’outro feitio, amar doutra forma, reproduzir doutra maneira [..] A aspiração dos artistas novos seria a de fixar através da própria personalidade o grande momento de transformação social de sua pátria na maravilha da vida contemporânea; a de refletir a vertiginosa ânsia do progresso [...]; a de gravar o instante em que os velhos sonhos afundam, com todas as superstições de outrora, inclusive a da moral, na eclosão de uma vida frenética e admirável” (RIO, 1911a: 220-223).
Esse discurso de posse na ABL (que também forneceu a epígrafe deste ensaio) escancara a adesão de Paulo Barreto à “vida frenética e admirável” da vida contemporânea, marcada pelos avanços da tecnologia, da razão instrumentalizada que busca transformar a natureza, na “vertiginosa ânsia do progresso”, fator de transformação da própria sociedade e seus valores estéticos e morais, políticos e éticos. Repare-se que em tais alusões do discurso podem estar ecoando idéias, metáforas e imagens do Manifesto Futurista de 1909, assinado por Marinetti, que reverberará, mais tarde no título do livro Adiante! (2) (1920), a coletânea de discursos, artigos e conferências com o tema do patriotismo e da modernização, que traz a epígrafe “Ut velotius, aptius et crius” (Mais velocidade, mais aptidão, mais entusiasmo). De maneira inconsciente ou não, traços futuristas permanecem, intencionalmente ou não, mas fixados nas malhas das letras impressas, que buscam a permanência na materialidade dos livros, que recolhiam e selecionavam os textos previamente publicados em jornais e revistas (ver a esse respeito GOMES, 2005; NOVAES, 2009).
Imbuído da relação da modernidade com a fixação do instante (lembre-se de que João do Rio assinará uma coluna justamente denominada “O instante”, na Gazeta de Notícias e depois em O Paiz), associado ao efêmero, ao contingente urbano, ao veloz, característica do moderno, o repórter carioca relaciona o olhar flutuante do cronista a artefatos que a técnica inventa. O trabalho do cronista, aqui já um tanto distante das propostas do flâneur-repórter da primeira fase da carreira, fica na superfície do mundo observado, de onde retira seus assuntos, com que nutre a curiosidade do homem da multidão – a “eterna curiosidade da vida urbana”, como atesta no Cinematographo. A cidade é aquela que passa; tudo flui no tempo acelerado da velocidade e da pressa, “a pressa de acabar” (título da crônica que encerra o Cinematographo): ser breve na captação dos instantâneos do cotidiano, porque há outros mais adiante.
No texto introdutório do livro Cinematographo: crônicas cariocas (1909), que recolhe e reorganiza textos publicados na coluna homônima da Gazeta de Notícias e em A Notícia, assinados por Joe, aquele aspecto quantitativo é relacionado à atenção flutuante e superficial e associado ao cinema, aparato técnico que, somado à cidade, se torna uma obsessão para a imaginação. O enorme suceder de acontecimentos, personagens e cenas das fitas compõe “a cidade inteira, uma torrente humana – que apenas deixa indicados os gestos e passa leve sem deixar marcas, passa sem se deixar penetrar” (RIO, 1009: vi).
Tal formulação elege o cinematógrafo como base para a analogia com a crônica e seu intrínseco relacionamento com a superfície sempre cambiante da cidade. Com tal alusão ao artefato do universo da técnica moderna, João do Rio mimetiza seus processos de produção textual e aponta para o leitor o objetivo geral de não se aprofundar no âmago das coisas. Da atenção que apenas roça a superfície do observado, “nasce o grande panorama da vida fixado pela ilusão” – declara no prefácio (RIO, 1909: vii). A analogia com o cinematógrafo não só se relaciona à crônica enquanto gênero adequado para fixar a Capital Federal em transformação, mas à própria maneira fragmentada, superficial e fugaz de vê-la, de fixar o instante, ao clima perceptivo de superestimulação, distração e sensação momentânea, imediata e tangível, traço da modernidade estreitamente ligado ao cinema e à invenção da vida moderna, relacionada à metropolização (CHARNEY, 2004: 317; GOMES, 2008).
A sedução tecnológica deixa rastros em sua escrita, a começar pela linguagem do jornal que mimetiza em sua ficção, acompanhando depois outras tecnologias que fecundam o imaginário do século XX. Assim, teoriza ele no prefácio daquele livro cujo título já nomeia um desses aparatos:
- A crônica evolui para a cinematografia. Era reflexão e comentário, o reverso desse sinistro animal de gênero indefinido a que chamam: artigo de fundo. Passou a desenho e a caricatura. Ultimamente era fotografia retocada mas sem vida. Com o delírio apressado de todos nós, é agora cinematográfica – um cinematógrafo de letras, o romance da vida do operador no labirinto dos fatos, da vida alheia e da fantasia –, mas romance em que o operador é personagem secundário arrastado na torrente dos acontecimentos. Esta é a sua feição, o desdobramento das fitas, que explicam tudo sem reflexões (...) (RIO, 1909: x).
Neste diapasão, é que explica na nota ao leitor que fecha o volume: “E tu leste, e tu viste tantas fitas” (RIO, 1909: 390), que relata fatos e comentários de um ano (seria uma revista de ano, agora em forma de cinema de letras), “apanhados por um aparelho de fantasia”: máquina e imaginação, com que se faz o cinematógrafo de letras (a expressão é do próprio João do Rio).
Essa conjugação afeta o modo de olhar e os modos de escrever as representações da vida vertiginosa dos centros urbanos. É o que sugere em “A era do automóvel” que abre o livro Vida vertiginosa, de 1911. Figurando a idéia da vida em processo, essa crônica atrela-se ao mito da velocidade, traço de força do Futurismo, que está sendo lançado na mesma época (lembre-se, mais uma vez: o primeiro manifesto de Marinetti é de 1909). Em João do Rio é também uma marca de ruptura com o velho e de anúncio do novo, do progresso. O automóvel é o “monstro transformador que irrompeu, bufando, por entre os escombros da cidade velha [do Rio], e como nas mágicas e na natureza, aspérrima educadora, tudo transformou com aparências novas e novas aspirações” (RIO, 1911b: 3). O Automóvel, com maiúscula, também alegoriza a transfiguração da cidade; é “o grande sugestionador” dos novos tempos que simplifica a linguagem corroendo a retórica tagarela e ornamental (que, por sinal, o autor mesmo praticou) com o mundo das siglas e a linguagem telegráfica (que ele não chega a praticar nos moldes do Modernismo de 22), economiza o tempo e encurta o espaço: “é um instrumento de precisão fenomenal, o grande transformador das formas lentas” (RIO, 1911b: 5). “O Automóvel ritmiza a vida vertiginosa, a ânsia das velocidades, o desvario de chegar ao fim, os sentimentos de moral, de estética, de prazer, de economia, de amor” (RIO, 1911b: 4). Por tal viés, João do Rio mostra-se encantado com essa máquina, que o leva a declarar: “O meu amor, digo mal, a minha veneração pelo Automóvel vem exatamente do tipo novo que Ele desenvolve entre mil ações da civilização, obra Sua na vertigem geral” (RIO, 1911b: 5). E mais, com as metáforas que fecham a crônica “A era do automóvel”: “Automóvel, Senhor da Era, Criador de uma nova vida, Ginete Encantado da transformação urbana, Cavalo de Ulisses posto em movimento por Satanás, Gênio inconsciente da nossa metamorfose” (RIO, 1911b: 11). (Por ironia do destino, João do Rio morreu dentro de um táxi!). Com uma prática escritural bem distante das programadas pelo Manifesto de Marinetti, o texto parece ecoar, em sua temática e em sua exaltação da máquina transformadora, a sensibilidade futurista. Certamente o escritor brasileiro assinaria o aforismo do Manifesto: “Nós declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova: a beleza da velocidade”, mas certamente não legitimaria a continuação desse aforismo que, com a intenção de chocar, exorta com a boutade: “um automóvel de corrida com seu cofre adornado de grossos tubos como serpentes de fôlego explosivo ... um automóvel rugidor, que parece correr sobre a metralha, é mais belo que a Vitória de Samotrácia” (3). João do Rio, com a mesma potência da analogia (essa mesma propugnada pelo Manisfesto), poderia talvez dizer que um automóvel em velocidade seria tão belo quanto a famosa estátua grega, imbuído do sublime que cada época pode realizar. No escritor brasileiro a tradição ocidental não era para ser descartada, ou destruída, mesmo que sua sensibilidade futurista exigisse a modernização dos sentidos para perceber o novo sublime, a beleza da velocidade, que se coaduna com as conquistas técnicas da modernidade (FABRIS, 1987: 63).
Essa mesma sensibilidade que exalta “a beleza da velocidade”, porém, não impede que Paulo Barreto preveja as consequências da velocidade e do universo da tecnologia, escrevendo a ficção antecipadora de “Um dia de um Homem em 1920”, publicado primeiramente no jornal A Notícia, de 25/07/1909, e selecionado, não por acaso, para fechar o volume Vida vertiginosa (1911).
Cronista por excelência das transformações do Rio de Janeiro, Paulo Barreto registrou a cidade como um microcosmo onde se repetiam, em escala menor, as mudanças da civilização moderna. Seu olhar direcionado pelo cosmopolitismo sublinhava o entusiasmo do homem do século XX, orgulhoso das conquistas da máquina que pareciam apressar o ritmo da vida. Preso ao seu tempo, o cronista exalta o presente vertiginoso do homem ativo e imediato que apressa os atos da vida como revela em “A pressa de acabar”, de Cinematographo. Quer João do Rio testemunhar essas rápidas mudanças de usos, costumes e idéias que tem por palco a cidade. Com essa preocupação, abre o livro de 1911 com “A era do automóvel”. Coloca a coletânea sob o signo da velocidade, sob o fascínio da técnica modernizadora.
O entusiasmo da abertura deságua na sátira social que desloca a ação para o futuro, ainda que não muito distante. Deslocado das páginas do jornal, “O dia de um Homem em 1920” (4) ganha sentidos suplementares nas relações com as outras crônicas do livro. Exercício de futurologia, que trabalha a hipótese dos resultados da evolução tecnológica, o texto prevê até onde iria o homem em sua ânsia contínua e crescente de pressa, de movimento, de poder. Seria a consequência lógica, na linha progressiva do tempo linear, da vida vertiginosa. Da vivência da cidade nasce uma vivência do futuro.
A epígrafe que abre o texto noticia à maneira jornalística os últimos inventos da técnica, do aerobus à máquina de estenografar. “As ocupações são cada vez maiores, as distâncias menores e o tempo cada vez chega menos” – diz o narrador. Evoca a derrubada das fronteiras usuais do espaço e do tempo e a desterritorialização – marcas da modernidade. “Diante dos sucessivos inventos e da nevrose da pressa hodierna”, julga ser “fácil imaginar o que será o dia de um homem superior dentro de dez anos, com este vertiginoso progresso que tudo arrasta ...”. O texto introdutório, assim, estampa uma “notícia” (os inventos que, na verdade, são também fantasia da imaginação) e anuncia uma proposta, de que a crônica propriamente dita será o desdobramento e a prova.
Essa proposta introduz o “Homem Superior”, figura central – que implica os “homens inferiores”, os trabalhadores mencionados de raspão, dependentes e controlados pelo poder concentrador. A divisão bipartida é política e social, mas também topológica. O Homem Superior, o grande empresário, que “sabe sempre tudo” (a forma panóptica possibilitada pela tecnologia avançada), vive no espaço “superior”. Locomove-se por coupé aéreo e só desce à terra, o lugar dos inferiores e da morte, em caso muito especial, como o falecimento da filha. Organiza-se a cidade futurista por meio da oposição alto/baixo, refinamento/selvageria, avanço tecnológico/atraso.
A sátira de João do Rio coloca a ênfase na continuidade do mundo contemporâneo do progresso e da velocidade. Via no futuro a permanência potencializada dos valores da sociedade do presente. Trabalhando a hipérbole e o grotesco como arma satírica, o narrador corrói a utopia e apresenta conclusões pessimistas. O ritmo cada vez mais veloz da existência, regulada pelo relógio, preocupada em vencer o tempo, desumaniza o homem. Apressa-lhe o ciclo da vida: aos trinta anos, é a decrepitude, a morte. A vida totalmente automatizada condiciona-se à engrenagem capitalista da competição, à esfera do ter, cujos índices são posse de coisas e pessoas, a fortuna de milhões, a “ânsia de fechar o mundo, de não perder o tempo, de ganhar, lucrar, acabar.
O narrador faz da cidade – o Rio de Janeiro do futuro, mas que poderia ser toda e qualquer cidade – o próprio objeto do relato. Oferece índices que atrelam a cidade à metrópole da tecnologia computada na descrição de um dia do Homem Superior, dia mostrado como um “circuito infernal” (a expressão é de João do Rio). A megalópole babélica, já numa era de globalização econômica e tecnológica, caracteriza-se pelos inventos moderníssimos que ele prevê (o texto é de 1909, lembre-se): o despertador elétrico, os serviços domésticos automatizados, a navalha elétrica, a voz fonográfica ( o rádio), os trens subterrâneos, o aerobus, as companhias aéreas regulares, a máquina de calcular, a “máquina de escrever o que se fala”, o taxi aéreo, “o coupé aéreo que tem no vidro da frente, em reprodução cinematográfica, os últimos acontecimentos” (a televisão), “o jornal Eletro Rápido, com edição diária de seis milhões de telefonógrafos a domicílio, fora os quarenta mil fonógrafos informadores das praças, e a rede gigantesca que liga as principais capitais do mundo em agências colossais”. Nesse universo em que os meios de comunicação são avançadíssimos, em que os limites do espaço e do tempo podem ser ultrapassados, num mundo desgeografizado, os sentimentos desaparecem, a comunicação interpessoal é automatizada ou não existe. “Não se conversa. O sistema de palavras foi substituído por abreviaturas”.
A sátira de João do Rio prevê a crise da civilização urbana: a metrópole do presente anuncia a Babel tecnológica do futuro (é curioso observar as incríveis coincidências com o filme Blade Runner, o caçador de andróides, ou Blade Runner, perigo iminente, de Ridley Scott, 1982). A vida vertiginosa aponta para a corrosão do humano, para a cidade não-compartilhada do individualismo e da concentração de renda e poder. Desta cidade elimina-se o andar que define um espaço de enunciação, como o flâneur havia configurado em A alma encantadora das ruas, em que circulava a retórica pedestre das trajetórias. Com os pés na cidade, a massa fervilhante e seus caminhos entrecruzados davam sua forma aos espaços. Esses caminhos uniam os lugares e criavam a cidade por meio dos atos e movimentos diários, cujas marcas trazem a intenção humana. A sátira de 1909 substitui essa retórica por outra, a da tecnologia dos deslocamentos aéreos e circuitos elétricos e eletrônicos de comunicação. O presente enfoca o futuro: o sujeito da enunciação dramatiza os enunciados, cruzando essas duas escalas temporais. O narrador vê o futuro já envelhecido na imagem do Homem Superior. Cria esse arquétipo para demonstrar ironicamente que, apesar de toda a parafernália moderna, das máquinas às vitaminas e alimentos sintéticos aos cuidados com o corpo, o homem não é superior ao tempo: ele “está calvo, com uma dentadura postiça e corcova”, aos 30 anos – sofre de decrepitude acelerada. A imagem revela o presente cujo futuro a tecnologia não garante. O cronista projetou esse futuro para 1920 e, pautando-se pela lógica da aceleração do tempo, prenunciou a crise urbana. De certa forma, dá-se, aqui, “a identificação homem-motor”, que virá a ser propugnada por Marinetti em ‘O homem mutiplicado e o reino da máquina” (FABRIS, 1987: 32).
O imaginário da máquina é também acionado em dois de seus últimos contos que ganham teor de sátira social: “O homem de cabeça de papelão” (O Paiz, 05/04/1920) e “A linguagem da máquina” (O Paiz, 07/04/1920), depois reunidos em O rosário da ilusão (1921). O primeiro trata da parábola de Antenor, inteligente e culto, mas que, para vencer na Terra do Sol, tem de trocar sua cabeça privilegiada por uma máscara oca de papelão. O segundo resume as especulações filosóficas de uma velha máquina de fábrica aposentada sobre a crescente automação do mundo moderno, tema que já se anunciava em “Um dia de um Homem em 1920” (RODRIGUES, 1996: 239).
Esses aspectos, de uma forma ou de outra, poderiam apontar para uma possível relação com as propostas futuristas (como a modernidade mecânica), sem entretanto os traços radicais e provocadores da vanguarda e sem os traços de linguagem do programa futurista (as provocações de João do Rio eram de outra ordem), o que não deixa de configurá-lo como moderno (o que a versão canônica do Modernismo brasileiro não viu, ou não quis ver), mesmo que estivesse na periferia dos centros hegemônicos do capitalismo e do chamado mundo civilizado. Surpreende, porém, ao lado da linguagem às vezes preciosista e rebuscada para os padrões modernistas que o esqueceram, a aguda consciência em relação aos tempos modernos e seus paradoxos, aos rumos que ia tomando a modernização num país como o Brasil. O silêncio de João do Rio quanto ao futurismo de Marinetti, de que possivelmente tomou conhecimento, talvez possa ser explicado por seu atrelamento ao Decadentismo, apreendido de Oscar Wilde e Nietzsche, entre outros, e ao dandismo, ao esteticismo, mais afeitos ao seu comportamento histriônico, que lança mão do artifício e da máscara, que se ligam ao prazer e gozo da vida e da beleza que bebeu em D’Annunzio, um dos seus ídolos. De fato, ele não seria um modernista de feição da primeira geração centrada em São Paulo, com o programa posto em prática a partir da Semana de Arte Moderna, embora tenha percebido o mundo moderno como poucos. A confiar na observação que fez sobre o cubismo [“um nefelibatismo ainda mais idiota” (“Onde se encontra a vitória”, O Paiz, 04/07/1919, republicado no vol. 2 de Na Conferência da Paz)], de que tomou conhecimento, na viagem a Paris para a Conferência da Paz, depois da I Guerra Mundial, certamente Paulo Barreto/João do Rio não seria um artista de vanguarda e poderia ter antecipado a resposta de Mário de Andrade a Oswald de Andrade, que o chamou de “meu poeta futurista”: “Não sou futurista de Marinetti”.
Como se viu, não há provas cabais de que João do Rio, em sua primeira viagem à Europa, em 1908-1909, ou mesmo na outra realizada em 1910, tenha tomado conhecimento do Manifesto de Marinetti, mas certamente testemunhou o clima que animava os tempos modernos nas cidades européias visitadas. Por coincidência (?), na mesma época é tocado pelo mito moderno da velocidade e do automóvel, da pressa, que fecunda o imaginário da máquina e do cinema, que motivou grande número de crônicas para a imprensa da época, depois recolhidas em parte em livro como Vida vertiginosa (1911), em que se podem depreender temática e posturas discursivas semelhantes ao do Manifesto Futurista de 1909.
BORGES, Maria Eliza Linhares. “A Exposição Nacional de 1908 e a produção da identidade nacional brasileira”. Anais do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, n.40, 2008.
CHARNEY, Leo. “Num instante: o cinema e a filosofia da modernidade”. In: CHARNEY, Leo & SCHWARTZ, Vanessa R. O cinema e a invenção da vida moderna. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
FABRIS, Annateresa. Futurismo: uma poética da modernidade. São Paulo: Perspectiva, 1987.
FUTURISMO italiano. Disponível em: http://www.sibila.com.br/index.php/critica/140-o-futurismo-italiano. Acesso em 12/01/2010.
GOMES, Renato Cordeiro. “João do Rio: o artista, o repórter e o artifício à entrada de uma modernidade periférica”. In: João do Rio por Renato Cordeiro Gomes. Rio de Janeiro: AGIR, 2005.
________. “Dimensões do instante: mídias, narrativas híbridas e experiência urbana”. In: Comunicação, Mídia e Consumo. Revista do Programa de Pós-Graduação em Comunicação ESPM, São Paulo, v.11, pp. 131-148, 2008.
HUMPHEREYS, Richard. Futurismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
MACHADO, Arlindo. “A emergência do observador”. In: Galáxia, v.2, n. 3, 2007. Disponível em: http://revistas.universitárias.org/índex.pho/galáxia/article/view/1302/1072. Acessado em 10/02/2010.
MARIANI, Luiza Helena Bilac. “João do Rio e a Exposição Nacional de 1908”. In: PEREIRA, Margareth da Silva (org.). 1908 Um Brasil em Exposição. Rio de Janeiro: Casa Doze, 2010
MARINETTI, F.T. (a) “O Futurismo” (1909); (b) “Manifesto Técnico da Literatura Futurista” (1912). In: TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda européia e modernismo brasileiro. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 1982, pp. 89-99.
NEVES, Margarida de Souza. As vitrines do progresso. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 1986.
NOVAES, Aline da Silva. Os cinematographos de João do Rio: a crônica-reportagem e a cinematografia das letras (dissertação de mestrado). Rio de Janeiro: Departamento de Comunicação Social, PUC-Rio, 2009.
PEREIRA, Margareth da Silva. “A Exposição Nacional de 1908 ou O Brasil visto por dentro”. In: ________. (org.). 1908 Um Brasil em Exposição. Rio de Janeiro: Casa Doze, 2010.
RIO, João do. As religiões no Rio. Paris: Garnier, 1904.
________. O momento literário. Paris: Garnier, 1905.
________. Cinematographo: crônicas cariocas. Porto: Lello & Irmão, 1909.
________. Psicologia urbana: “O amor carioca”; “O figurino”; “O flirt”; “A delícia de mentir”; “Discurso de recepção”. Paris: Garnier, 1911a.
________. Vida vertiginosa. Paris: Garnier, 1911b.
________. Portugal d’agora. Paris: Garnier, 1911c.
________. Na Conferência da Paz. 3 v. Rio de Janeiro: Villas Boas, 1919-20.
________. Adiante! Paris: Aillaud; Lisboa: Bertrand, 1919.
________. Rosário da ilusão... Lisboa: Portugal-Brasil; Rio de Janeiro: Americana, 1921.
RODRIGUES, João Carlos. João do Rio: uma biografia. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996.
SIMMEL, Georg. “A metrópole e a vida mental”. In: VELHO, Gilberto (org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.
Jornais citados: Gazeta de Notícias, O Paiz, A Notícia, Jornal do Commercio, Jornal da Exposição.
(1) Este livro Les Dieux s’en vont, D’Annunzio reste (Gli dei se ne vanno, D’Annunzio resta), cujo título é traduzido para o português por João do Rio na crônica citada, é uma recolha de textos que saíram em revistas francesas e milanesas entre 1903 e 1907, e publicado em Paris na Bibliothèque Internationale d’Editions E. Sansot, em 1908, com capa do pintor Valeri, trazendo uma caricatura de D’Annunzio. Os deuses a que se refere são Giuseppe Verdi e Carducci Giosuè, mortos então recentemente. Pela data da alusão na crônica de “Cinematographo”, Paulo Barreto lera o livro em francês, no calor da hora, o que prova, mais uma vez, estar ele a par das novidades editoriais da França. Uma curiosidade: este mesmo livro de Marinetti foi citado por Gramsci em carta a Trotsky, de 8/9/1922, discorrendo sobre a posição dos futuristas em relação a D’Annunzio. Disponível em: http://www.sibila.com.br/index.php/critica/140-o-futurismo-italiano. Acesso em 24/10/2009.
(2) Eis o que diz o Manifesto Futurista de 1909: “Gritam-nos: “A vossa literatura não será bela! Não teremos mais a sinfonia verbal, de harmoniosos embalos, e de cadências tranquilizantes!” Isto é bem compreensível! Que fortuna! Nós utilizamos, ao contrário, todos os sons brutais, todos os gritos expressivos de vida violenta que nos cerca. Façamos corajosamente o ‘feio’ em literatura e matemos de qualquer maneira a solenidade. Adiante! Não tomar esses ares de grande sacerdote , ao ouvir-me! É preciso cuspir cada dia no Altar da Arte!”. O “Adiante!” de João do Rio refere-se antes à vida dinâmica, ao progresso moderno aliado a novas formas do belo, mas sem destruir o Altar da Arte, as harmonias, que vinham da tradição e eram enfatizadas pelo Decadentismo. Embora João do Rio exalte o “reino mecânico”, não via a arte como “necessidade de destruir-se e de espalhar-se, grande regador de heroísmo que inunda o mundo”, como exaltam as palavras de Marinetti.
(3) Ver como Annateresa Fabris, em Futurismo: uma poética da modernidade, explora a oposição automóvel/Vitória de Samotrácia, “a afirmação absoluta da primazia do movimento mecânico sobre a estaticidade de um dos fetiches da cultura tradicional, adquire um significado que vai além da boutade provocatória, Trata-se, na verdade, do miolo estético do manifesto que, telegraficamente, anuncia o advento de uma era para a arte e a cultura. ‘Mais belo que a Vitória de Samotrácia’ significa, como afirma Calvesi, que define neo-heracítica a linguagem futurística, ‘mais dinâmica, mais arriscada, mais exposta’” (1987: 63-64).
(4) As citações entre aspas articuladas na sintaxe do meu texto, sem indicação de páginas, remetem à versão publicada no livro Vida vetiginosa (Paris: Garnier, 1911: 331-341).