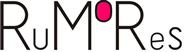 |
|||||||||||||||||||

Eficiente e vitoriosa junto ao grande público, essa narrativa clássica, desde o início, elegeu o jornalista como personagem importante. Por seu intermédio, procurou compreender e representar as mudanças operadas nos grandes centros urbanos com o advento do mundo moderno.
Entretanto, essa representação do jornalismo e do jornalista é permeada de contradições e indagações. Sabemos que a imagem do jornalista no século XX foi formada, em boa parte, pelo cinema. São os filmes clássicos que constroem uma imagem superficial do campo e da profissão. Isto porque elegem um modelo de narrativa que não suporta personagens densos, comunicação também pela forma (não privilegiando somente o tema) e se contenta com o aplauso rápido e domesticado do grande público.
Meu intuito é observar como o cinema brasileiro contemporâneo representa o campo e a profissão. O filme «Um céu de estrelas» (1996), de Tata Amaral, é nosso objeto. A análise aborda os motivos pelos quais o filme distancia-se do melodrama e aproxima-se do conceito de tragédia (Raymond Williams) e, de que maneira, o jornalismo (o telejornalismo) é representado.
No filme «Doces poderes», de Lúcia Murat (1996), tem-se uma representação em que a pretensa crítica ao jornalismo esbarra nas próprias armadilhas da narrativa. É o oposto do que ocorre com «Um céu de estrelas», da cineasta Tata Amaral. No filme, o telejornalismo ganha um diagnóstico diferente. A escolha do enredo privilegia uma estrutura próxima da tragédia. O filme é baseado na obra do escritor Fernando Bonassi que sintetiza a história desse modo:
- Um homem seqüestra sua ex-noiva, pretendendo fazer com ela volte a amá-lo. Um gesto desesperado, sem dúvida. Um gesto suicida? Certamente. Trata-se de uma história simples. Não há grandes revelações na organização de sua narrativa. Tudo que interessa ao romance policial guardar para o final, sabemos desde a primeira página. Mas não era o romance policial que eu estava procurando. Não me interessava o modelo do jogo em que os elementos da trama vão sendo dosados com uma receita apetitosa. O sabor de Um céu de estrelas é amargo. Os desejos estão à flor da pele, com toda a vitalidade, violência e, para muitos, sujeira. A paisagem não oferece qualquer atrativo: Zona leste, estertorando ante os cadáveres juvenis que decoram as ruas. A situação dos personagens parece não indicar uma saída. O desemprego, o abandono, a miséria cotidiana que vai sangrando aos poucos, esvaziando, tirando o sentido de qualquer expectativa. Meu interesse foi documentar uma trajetória para a desgraça. Lenta, inexorável... essas histórias comuns, essa espécie de inércia assassina que se apossa de algumas pessoas e é tão pior num país em que a produção da desesperança é a própria técnica das relações entre os poderosos e os miseráveis (BONASSI, 1999).
Dalva (Alleyona Cavalli) recebe o ex-namorado Vítor (Paulo Vespúcio) em casa. Ela ganhou um concurso de penteados e está de viagem marcada para Miami (EUA). Sua mãe não simpatiza com Vítor e o quer longe da filha. O filme apresenta personagens sem referência psicológica ou social. Não se aposta numa explicação dos personagens.
Em «Doces poderes», Bia, jornalista de televisão, trava um diálogo com Bob – jornalista que está se transferindo para o marketing político. Neste, as premissas do filme e a biografia dela são apresentadas de forma didática. Em cada diálogo há a intenção da explicação com o intuito de instaurar um tipo de pedagogia moral. No melodrama, a explicação das causas e efeitos facilita a identificação do público com os personagens e temas, visto que não há a dramatização necessária para adensar os personagens. Eles necessitam ser didáticos, prontos para serem assimilados, sua trajetória já está claramente especificada na ação porque seus destinados já estão traçados. Daí a ternura do público para com esses personagens. Ternura que se torna gratidão e gratificação. Em seu desamparo diante da tela, sozinho, no escuro, apesar da sala cheia de gente, o espectador sente-se conciliado com a humanidade. A sua submissão ao desejo do personagem, ou ao desejo do outro, conforme a psicanálise, traz a gratificação cativa. É como uma relação amorosa, na qual se conclui enganosamente que o abandono e a sensação da falta estão definitivamente afastados.
Ou seja, no melodrama o que se espera sempre é a gratificação pelo processo identificatório. Mas quando as histórias são desnudadas e desidentificadas, sobrevêm as surpresas e muitas vezes o desapontamento. É o que acontece quando se vê um filme mais de uma vez. Toda a surpresa, uma das chaves para a identificação, não corresponde mais àquela reposição de afeto garantida pela primeira visada. Daí a puxada de tapete e a desilusão semelhante àquela que acontece com o sujeito quando descobre, no processo analítico, que o “outro” não vai preencher todo o seu vazio existencial.
Bia gratifica o espectador por ser a heroína de uma boa causa, em busca da verdade. O espectador identifica-se com sua vontade de superar obstáculos e enfrentar os perversos. Seu esforço enternece e provoca a familiaridade. Há uma beleza em seu desejo de ser correta e avatar dos bons propósitos. Entretanto, um segundo e terceiro olhar já não garantem o mesmo efeito, pois o sentido da identificação é quebrado. Daí a desilusão. Mas poucos vêem um filme mais de uma vez e a possibilidade da corrente apaziguadora se quebrar é muito pequena. Ao contrário, ávido por narrativas que preencham o “vazio” e ansioso por afeto, esquecemos da impossibilidade do desejo do outro ocupar o nosso lugar, a nossa «falta».
«Um céu de estrelas» inverte esse processo. Os personagens são o avesso do personagem melodramático. O melodrama se manifesta quando há o confronto entre Vítor e a mãe, e na cobertura da televisão, quando o telejornalismo invade o espaço privado. A narrativa aponta que eles não têm o controle de suas vidas. O acaso determina o destino e isso faz com que cada ação se torne imprevisível e chegue a uma situação extrema:
- A idéia de tragédia vê-se então marcada pela impossibilidade de os personagens exercerem um papel de agente dramático, pela carência de poder decisório, pelo seu envolvimento num processo sobre o qual não exercem nenhum controle e que eles não entendem (BERNARDET, 1999).
Não sabemos para que lado caminha a história. Os personagens, o ponto de ancoragem do espectador, não facilitam a identificação. A relação de Vítor e Dalva, sem as informações prévias, dificulta esse apoio porque não há muitas explicações, ao contrário de «Doces poderes», inundado de explicações totalizantes. Abreu (1999) afirma que “os personagens trágicos encenam o poder, enquanto um personagem melodramático vive uma impossibilidade real”.
Daí resulta o mal-estar e o incômodo em ver os dois em «Um céu de estrelas» perambulando pela casa sem as explicações a que o público está acostumado no melodrama. Onde tudo aquilo vai parar? O espectador pode identificar-se com a angústia de Dalva, que, em raros momentos, deixa escapar uma movimentação mais palatável. No final de «Doces poderes», o diagnóstico do jornalismo é aparentemente realizado com precisão. Celebra-se o “fracasso” de Bia como uma vitória e a queda da heroína que apazigua o espectador porque ela cumpriu seu périplo ostentando a garnacha da justiça. O que importa é o exemplo, a pedagogia moral. O fracasso, no melodrama, também enseja o triunfo da virtude. O herói morre, mas deixa o exemplo, dizia Pixerécourt – o mestre dos melodramas teatrais do século 19.
O gênero não permite as contradições e a discussão profunda das questões, pois basta o exemplo moral e a gratificação. Numa sociedade com tendências a infantilização (1), personagens como Bia encontram respaldo pelo altruísmo, encarado como parte da natureza humana (2). Isso esclarece, em parte, por que o jornalista é visto no cinema quase sempre como um herói: um sujeito que luta contra as adversidades para reafirmar o compromisso com a verdade baseada em princípios da cultura cristã.
A aproximação de «Um céu de estrela»s com a tragédia é lembrada porque seus personagens afastam-se do modelo em que se basearam Hector Babenco [«Lúcio Flávio, o passageiro da agonia», «Carandiru»] e Lúcia Murat [«Doces Poderes»]. Como as explicações são escassas na narrativa, a intenção pedagógica observada em «Lúcio Flávio e Doces poderes» não aparece no filme de Tata Amaral. De acordo com Xavier (1999) “A tragédia como idéia reguladora tem uma virtude, que é a de propiciar uma dramaturgia geradora de interrogações, porque é um espaço que pode gerar paradoxos. É um espaço que pode gerar ruptura com causalidades já assentadas, é um espaço que pode gerar reposição de perguntas que já não pareciam possíveis”.
O embate entre Dalva e Vítor vai prosseguir de forma lacônica, sem ancoradouros pontuais para a eclosão de causas e efeitos como na narrativa de feição clássica-melodramática. O aparecimento da mãe de Dalva, que encarna valores morais para achincalhar Vítor, põe em cena a personagem melodramática. Há um borramento de fronteiras na condução do enredo, mas que rapidamente retorna ao projeto de uma aproximação com elementos da tragédia (3). A mãe, que seria a possibilidade de conciliação e apaziguamento, sucumbe. Os dois personagens crescem depois do interregno melodramático e não há conspirações e entraves externos, até aquele momento, a culpabilizar pelas decisões tomadas.
O filme apresenta Dalva e Vítor como agentes do próprio destino com dificuldades para se desvencilhar das amarras que os encarceram. Além disso, «Um céu de estrelas» representa o que Raymond Williams (2002) denomina “tragédia liberal”:
- No centro da tragédia liberal há uma situação isolada: um homem no ponto culminante de seus poderes e no limite de suas forças, a um só tempo aspirando e sendo derrotado, liberando energias e sendo por elas mesmas destruídas. A estrutura é liberal na ênfase sobre a individualidade que se excede, e trágica no reconhecimento final da derrota ou dos limites que se impõem à vida (WILLIAMS, 2002: 119).
Vítor encarna esse personagem trágico. O filme centra seu foco narrativo nessa idéia do indivíduo e seu ímpeto destrutivo. No cotejo com «Doces Poderes», o filme se distancia do enfoque melodramático. A aproximação com elementos da tragédia o expõe a outra indagação diversa daquela lançada sobre o filme de Lúcia Murat.
Para Williams, o conceito de tragédia está acoplado ao de «experiência», pois nele reside o “fundamento trágico por excelência”. A atualização do conceito prossegue no cotejo que faz entre a «tragédia grega», com conjugação dos mitos e o espírito coletivo, e a modernidade, na qual o individuo encontra-se desamparado, isolado, após a queda dos mitos religiosos, de todas as matizes, que lhe davam farta sustentação simbólica. Essas constatações deveriam reforçar a idéia de que vivemos uma tragédia moderna sem os esquivos da academia – segundo Williams, desde Nietzsche há uma desautorização para o uso do termo tragédia para os acontecimentos do mundo moderno. A instituição não deveria rejeitar a nomenclatura “tragédia” para acontecimentos como acidentes, desemprego em massa e catástrofes. As representações das ações humanas deveriam ser historicizadas para absorvermos de fato o legado dos gregos.
Desobrigado da tutela religiosa, o homem moderno adquire mais espaço para a locomoção física e cultural, mas, ao mesmo tempo, pressente a responsabilidade dada pela nova liberdade e vive à beira de uma epidemia depressiva. Adquire-se mais liberdade, entretanto, o contraponto é temer o «vazio» diante da ausência de tutela patriarcal ou religiosa. Isolado e “livre”, o homem moderno reabilita o senso trágico.
«Um céu de estrelas» tende a esquivar a essa idéia de tragédia moderna. Vítor e Dalva encarnam e representam, em parte, essa estrutura de sentimento (4) moderna permeada de liberdade, desamparo e derrota. Os personagens trágicos diferem dos melodramáticos, entre outras coisas, porque assumem os desafios que os tornam mais fortes. Abreu (1999) aponta a importância do contato com o trágico, pois, segundo ele, “nos torna mais fortes e nos coloca desafios que devemos enfrentar para conseguirmos chegar à maturidade”. Por isso, há pouco espaço para as conciliações ou conspirações externas que vitimizam o herói. A impossibilidade não existe para o personagem trágico. Se a mãe de Dalva é um entrave, Vítor não teme tomar uma decisão: matá-la. Após o extermínio da mãe, os dois dão prosseguimento ao “desencontro” que avança para o impasse absoluto.
As diferenças entre o melodrama e a tragédia são pertinentes, contudo, as ponderações de Williams, em cotejo com a narrativa, fazem sentido. O filme “fecha” os personagens para a história. Os ímpetos de Vítor provêm de sua personalidade sem ligação com a “história humana”. O externo, as contradições da história e os motivos da sua exasperação não são estampados. De acordo com Williams (2002: 120), “o que vemos [o que ele denomina tragédia liberal], então, é uma ação geral tornada específica, e não uma ação individual tornada geral”.
Por outro lado, o final do filme coloca mais questões: com a entrada em cena do telejornalismo (será o contexto histórico proposto por Williams?), a “tragédia liberal” sucumbe para a entrada do melodrama clássico?
O movimento circular dos dois é quebrado com a interferência externa do telejornalismo e da polícia. O barulho dos tiros faz com que a polícia cerque a casa e, aos poucos, o público, com a “ajuda” da televisão e da polícia, vai contornando a vida privada e forçando uma solução. Dalva coloca a faca no peito dele. Ele, o revólver na testa dela. Lá fora, a jornalista de televisão começa a cobertura do fato. As duas experiências se chocam completamente: dentro do universo doméstico há uma relação privada em compasso de espera; fora, a mídia dissemina uma narrativa dos fatos que não se aplica à verdade do que acontece na casa. O fato interno é denso, envolve pouquíssima alternativa. A jornalista inicia sua intervenção com um discurso deslocado, mas incisivo. Ela não sabe do que se passa, seu relato é confuso e esbarra nos procedimentos mais básicos da investigação do fato jornalístico.
O jornalismo de televisão dos anos 90 tende à espetacularização porque as motivações para relatar os fatos deslocaram-se do campo da hegemonia do texto para o campo da imagem clássica, objetiva. Isso não quer dizer de um ressentimento pela “submissão” do texto em relação a imagem, e sim o equilíbrio que o encontro das duas formas de narrar pode ensejar.
A jornalista não quer saber e nem tem fontes suficientes para relatar o que acontece com Dalva e Vítor. Sua intervenção é no sentido de organizar uma narrativa exagerada, espetacular, chocante, na qual as informações já estão lançadas a «priori». Dalva e Vítor, após a morte da velha senhora, ligam a televisão e acompanham a cobertura do cerco. Eles estão ali, na cozinha, impassíveis sem saber o destino, enquanto a televisão e a polícia preparam a invasão. Estão paralisados e acompanham o próprio “fim trágico” como se vissem uma outra ocorrência. É o telejornalismo que passa a explicar para eles e para nós o acontecimento.
O telejornalismo é um dos setores do jornalismo em que o uso da objetividade é apregoado e apologizado. Todavia, é nas coberturas policiais que o conceito é colocado em xeque de forma incisiva, uma vez que o jornalista de televisão faz a reportagem sempre acompanhada de militares. De antemão sua participação está comprometida porque o “outro lado” não será ouvido e sequer será chamado a enunciar seus argumentos. Como a repórter pode anunciar um fato se não possui as mínimas informações? Mas é isso que a repórter enseja: relata um fato para o público sem checar o ocorrido. Sua movimentação diante das câmeras é histérica no sentido de evidenciar a encenação de um fundo falso de notícia: o que está ocorrendo realmente? Ela entrevista o tenente responsável pela ação policial. Mesmo assim, a fonte da notícia é vazia, pois não tem as informações necessárias que poderiam se transformar em notícia. Num gesto espontâneo ela entrevista uma vizinha que informa ser o caso de um seqüestro. Mas quem é o seqüestrador? Ela checa a informação para anunciar um verdadeiro seqüestro?
O “espetáculo” diante das câmeras torna-se a própria notícia: os gestos efusivos, a respiração ofegante e a narração em ritmo de suspense ganham relevância em detrimento do fato. Ela eleva o suspense quando anuncia que há uma “refém”. O espaço interno é superposto pelo externo. O que transcorre no plano privado, vira “espetáculo” no plano externo, público.
O que sobressai é a exaltação da «velocidade» e do «espetáculo» proporcionado pelo telejornalismo. Se o filme se fecha no “espaço trágico” até quase o seu final, com a entrada do telejornalismo ele suscita o borramento de fronteiras entre cinema e a televisão. A construção da notícia na televisão obedece a outro ritmo que prescinde da paciência e da investigação. Em pesquisa com a categoria dos jornalistas, Pereira Júnior revela que 57,7% dos entrevistados “considera muito importante os «media» conseguirem obter informações rapidamente. Só um por cento dos jornalistas afirmou não ter importância nenhuma” (2001: 122). Essa pesquisa mostra o quanto a velocidade está enraizada na profissão. Dessa forma, os fatos se submetem a lógica da produção jornalística de televisão. Há uma descontextualização do fato e a notícia “verdadeira” passa a ser a elaborada pelo aparato técnico-narrativo, sem ligação efetiva com os acontecimentos. Isso significa que a “imagem” fabricada, por si só, torna-se mais importante do que o fato.
O jornalismo sensacionalista de televisão primeiro espetaculariza o fato, para depois correr em busca da notícia “verdadeira”. A manipulação do fato pelo telejornalismo cria, segundo Silva (1999: 14), um “enfeitiçamento” da realidade.
No caso do telejornalismo, esse “enfeitiçamento” torna-se ainda mais grave, pois há o acréscimo da imagem e as sensações emanadas. O jornalista de televisão, nesse caso, não é mais um porta-voz dos fatos, e sim uma espécie de condutor da encenação que infiltra na realidade. É um jornalismo de sensações como atesta Silva:
- Para o lugar da referência à realidade mediante conceitos entrou a referência através das sensações. Assim o jornalismo vai fazer dessa aparente dificuldade da não existência de conceitos claros «a priori» e da sensação como intermediária da realidade, seu ponto forte e sua força junto ao leitor [espectador] (1999: 165).
Não se espera mais do jornalismo de televisão a reportagem do fato, do acontecimento, mas sim a sensação advinda do espetáculo que se edifica.
Em «Um céu de estrelas» internaliza esse movimento do telejornalismo ao representar a sujeição do espaço diegético do filme ao “espetáculo” da televisão. Na segunda intervenção da jornalista, durante a sua fala, ouve-se um tiro. A polícia invade a casa e a câmera do filme é substituída no espaço fílmico pela câmera da televisão. Não estamos mais vendo o filme pela câmera do narrador onisciente, afastado pela intromissão da televisão, que “rouba” a ação e passa a estabelecer o seu ponto de vista, do fato e do filme. É a câmera que gravava a jornalista, «ao vivo», que assume o espaço do cinema, do ponto de vista do diretor. Ao “ver” Dalva com o revólver na mão e Vítor, morto, estendido sobre a mesa da cozinha, a câmera da televisão, agora guia de direção no espaço diegético do filme, pára e “toma consciência” da tragédia. Por alguns minutos, no canto esquerdo da tela, está inscrito “ao vivo” e o tempo da ação é congelado. O mundo que estava sendo reportado fora da casa, «ao vivo», se depara com outro fato.
O filme de Tata Amaral estanca por um momento o fluxo melodramático do telejornalismo, ao aplacar a «sensação» com a constatação de que a reportagem enfeitiçava a realidade: “O conceito de enfeitiçamento parece querer significar que o sujeito percebe algo, mas esse algo não corresponde ao ente da realidade” (SILVA, 1999: 161).
Descontextualizada, o filme consegue fazer a critica do telejornalismo, mas, em outro sentido, citado aqui na referência a Raymond Wiliams, ao não historicizar, o submete a idéia de uma “tragédia restrita”, oposta a uma noção mais ampla de tragédia.
WILLIAMS. Raymond. Tragédia moderna. São Paulo: Cosac & Naify, 2002
(2) Kehl (1996: 216), citando Freud em O mal-estar da civilização, afirma que “se o altruísmo fizesse parte da natureza humana não teria sido necessário se inventar um mandamento para nos convencer a amar o próximo”.
(3) Williams (2002) entende que Nietzsche e Schopenhauer influenciaram George Steiner a decretar a impossibilidade da “experiência trágica nos tempos modernos”. Steiner e outros acadêmicos, segundo Iná Camargo (2002), se incomodavam ao uso inadequado de “trágico”, ou seja, não se pode atribuir o termo as catástrofes, acidentes fatais no trânsito urbano, genocídios, etc. Williams vê preconceito e ausência de valorização do processo histórico. Para ele, ao condenar o uso do termo e sua popularização, os “acadêmicos” esquecem de observar a atualização do conceito e seus novos significados.
(4) Segundo Iná Camargo (2002), “estrutura de sentimento” é um termo recorrente ao longo de Tragédia moderna de Raymond Williams. Trata-se de uma expressão cunhada “para se referir a um conteúdo de experiências e de pensamento que, histórico em sua natureza, encontra na formalização mais específica nas obras de arte, marcando, por exemplo, a estrutura de peças, romances, filmes. Uma das modalidades de sua presença está em traços recorrentes de época, em convenções de gênero ou em outros dados estilístico-formais que definem o perfil de uma ou de um conjunto de obras”.