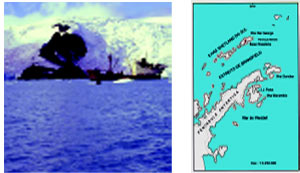|
|
| NESTA EDIÇÃO |
| |
Para
quem vive no Brasil, país tropical abençoado com lindas
praias e muitos dias ensolarados, as imagens da Antártica
mais se assemelham a quadros da vanguarda surrealista do que a cartões-postais
propriamente ditos, apesar de contemplarem paisagens impressionantes.
É difícil crer que exista realmente um lugar com praticamente
14 milhões de quilômetros quadrados cobertos por gelo,
onde venta, neva e chove quase todos os dias do ano. Há muitas
pessoas que gostariam de se aventurar nesse paraíso inóspito,
dominado por pingüins, gaivotas, baleias e leões-marinhos,
mas ir para a Antártica ainda é um privilégio
de poucos. Apenas cientistas e pesquisadores têm acesso ao
continente por meio de expedições organizadas em datas
específicas. Essa
decisão foi tomada pelos 12 países que compõem
o Comitê Científico para Pesquisas Antárticas
(Scar) e passou a vigorar em 1961, com o Tratado da Antártica.
O Brasil aderiu ao tratado em 1975 e começou as atividades
científicas na região seis anos depois, quando foi
criado o Programa Antártico Brasileiro (Proantar). Este ano,
o Proantar realizou a sua 21ª expedição, da qual também
participaram vários pesquisadores da USP. E, embora a maioria
desses pesquisadores esteja aguardando os resultados da análise
minuciosa das amostras recolhidas lá, muitas novidades sobre
a Antártica já podem ser reveladas.
“A
impressão que nós temos é que existe um registro
fantástico da variação climática que
ocorreu há 20 milhões de anos. A massa de gelo que
cobre a Antártica não apareceu de repente: ela foi
crescendo à medida que o clima mudou. E ora esse gelo expandia,
quando havia uma refrigeração muito intensa, ora ele
encolhia e expunha terra. A Antártica tem um efeito enorme
no sistema climático mundial e nós queremos saber
o que aconteceu no passado, em que épocas ocorreram glaciações
e quantos foram os períodos intermediários”,
explica o professor Antonio Carlos Rocha Campos, docente do Instituto
de Geociências (IGc) da USP, coordenador do grupo de assessoramento
do Proantar e coordenador-científico do Centro de Pesquisas
Antárticas (CPA) da USP. Junto com o professor Paulo Roberto
dos Santos, também do IGc, ele criou o projeto “Mudanças
Paleoclimáticas na Antártica durante o Cenozóico:
o Registro Geológico Terrestre”, que foi submetido
ao Proantar em 1992. “Nós
estamos estudando diversos locais para tentar reconstituir as condições
climáticas e ambientais de milhões de anos atrás.
Na Antártica, estamos estudando uma glaciação
que ocorreu por volta de 20 milhões ou 30 milhões
de anos”, diz Santos, coordenador do projeto. Além
dele, nesta última expedição foram ao continente
gelado o professor Rocha Campos, o paleontólogo Luiz Eduardo
Anelli, do IGc, o doutorando Alexandre Tomio, aluno do Programa
de Geologia Sedimentar do IGc, o geólogo José Alexandre
Perinotto, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), e dois alpinistas
do Clube Alpino Paulista, Rosita Belinky e Camilo Rebouças.
Para
entender o sistema climático de 20 milhões de anos
atrás, esses pesquisadores estão examinando determinadas
rochas dispersas na Península Melville, na Ilha Rei George,
onde está localizada a Estação Antártica
Comandante Ferraz (EACF), do Brasil. Elas são de fundamental
importância para esses geólogos porque são rochas
da era cenozóica, de um período que começou
há 65 milhões de anos, quando os dinossauros se extinguiram,
e terminou há 1,7 milhão de anos. O período
que interessa a esses pesquisadores está entre 20 milhões
e 40 milhões de anos. Essas rochas estão totalmente
expostas sobre o gelo e conservam as suas características
originais. A explicação é simples: ao contrário
dos outros continentes, na Antártica não há
intemperismo e, ao invés de se ter solo, tem-se gelo e, quando
este derrete, as rochas aparecem.
Para
os pesquisadores, esse é fato extremamente favorável,
mas nem por isso pode-se dizer que trabalhar na Antártica
é algo tranqüilo. Não é tão simples
assim enfrentar tempestades de 40 horas e um vento de, aproximadamente,
100 quilômetros por hora, quando se está hospedado
em barracas no gelo. “Estivemos nesse local agora pela terceira
vez. Ele é muito difícil porque é muito alto
e as rochas que nós queremos ver estão justamente
nas escarpas, que têm cerca de 150 metros de altura. Então,
desta vez fizemos um planejamento diferente: voltamos tentando usar
técnicas de alpinismo para descer ao longo da escarpa”,
conta Rocha Campos. As
dificuldades mesmo surgiram antes da escalada. Para chegar até
o local, os geólogos precisaram atravessar a geleira seguros
por cordas, em grupos de três, por causa das inúmeras
fendas encobertas. Mas os pesquisadores conseguiram driblar as barreiras
impostas pelo gelo. Para amarrar as cordas do rapel, a equipe levou
para a Antártica uma série de blocos de cimento de
50 quilos, que foram enterrados em determinados lugares e, a partir
daí, deu-se início à operação
de descida. Para isso, cada geólogo, além de vestir
uma roupa especial, tinha de levar consigo seu equipamento: radiotransmissor,
martelo, trena, lupa, bússola, vidro de ácido, saco
plástico, fita crepe e caneta. Santos relata sua experiência:
“Eu descia com o alpinista e depois ia subindo e descrevendo
a seqüência de rochas. Para não ter que fazer
anotações pendurado, levamos um rádio. Eu mantinha
contato com meu colega lá em cima, descrevia o que ia vendo
e ele anotava”.
Mas
essa não foi a única descoberta feita pelos pesquisadores
da USP. Ao lado desses corajosos cientistas, Luiz Eduardo Anelli,
que estuda a origem das concentrações fósseis,
trabalhou em pequenos rios de degelo, onde ele se deparou com inúmeras
conchas de 25 milhões de anos ainda conservadas pelo tempo.
E o que ele pôde concluir, até então, é
que, naquela região, há cinco camadas com milhares
de conchas que foram soterradas vivas, pois estão com as
valvas articuladas fechadas. “Não se sabe se elas foram
trazidas vivas por um sedimento ou se estavam lá mesmo e
uma grande camada de sedimentos soterrou a fauna”, diz o paleontólogo.
Segundo
ele, existem camadas de conchas que vão de 50 centímetros
a 10 metros. O pesquisador também encontrou conservados tubos
de caranguejos que hoje estão extintos. Anelli acredita que,
embora a maioria dos fósseis da região já seja
conhecida, provavelmente eles ainda não foram descritos cientificamente,
trabalho que ele pretende fazer a partir da análise das amostras
que coletou no local.
|
O Jornal da USP é um órgão da Universidade de São Paulo, publicado pela Divisão de Mídias Impressas da Coordenadoria de Comunicação Social da USP.
[EXPEDIENTE] [EMAIL]